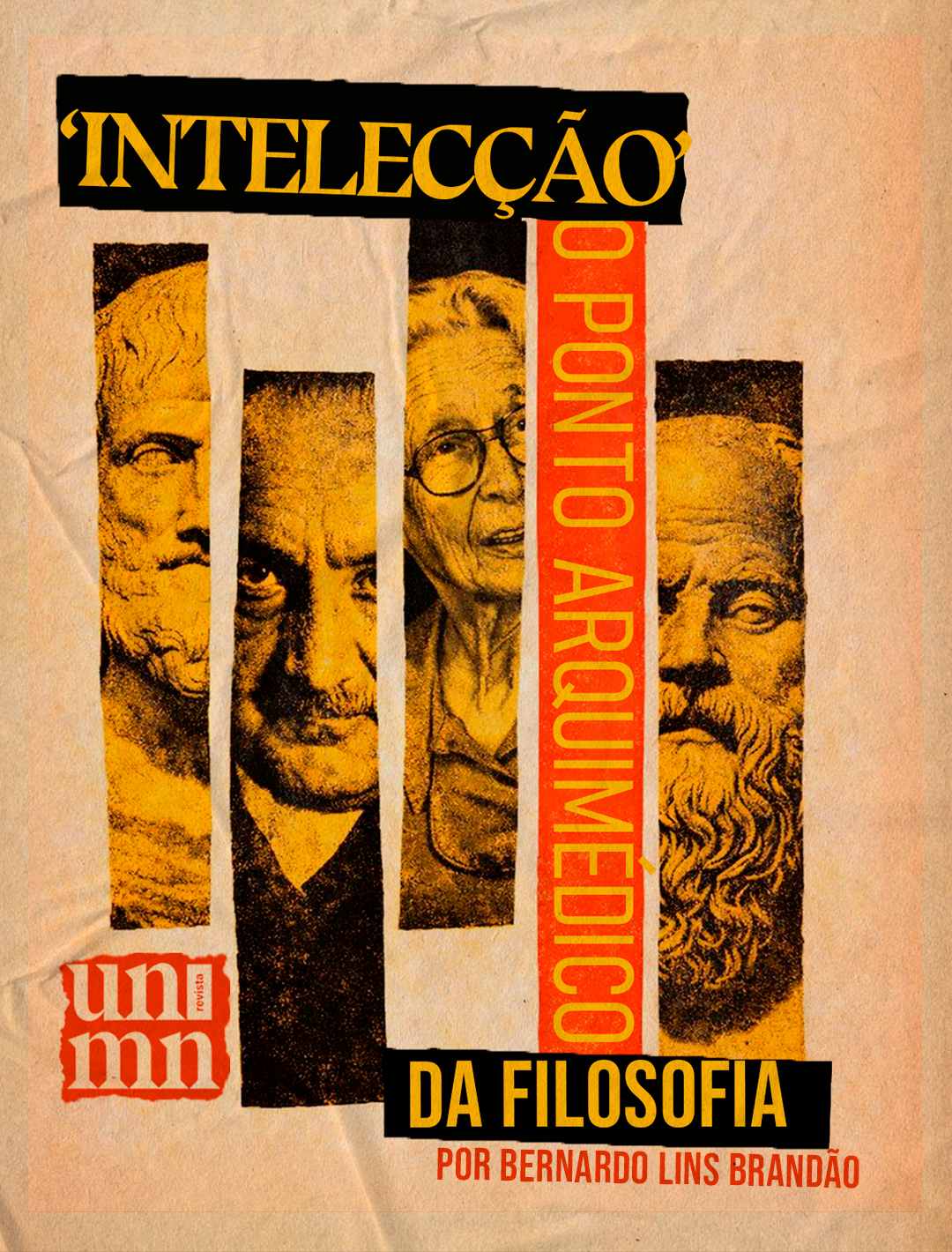Bandeira da minha terra
Guilherme de Almeida
Bandeira das treze listas.
São treze lanças de guerra.
Cercando o chão dos Paulistas!
Chovia chumbo. Correndo pelas trincheiras, ele via os aviões voarem alto como imensas aves negras, projetando suas sombras sobre os soldados inimigos. Um zunido fino ressoava progressivamente, até que veio a explosão: dum som de trovão metálico ribombando na terra voaram membros, cabeças, capacetes e estilhaços — uma nuvem de poeira encobriu tudo; enquanto isso, as metralhadoras continuavam a atirar suas rajadas incessantes.
Guilherme caiu. Com o rosto rasgado e cheio de fuligem, olhou ao longo do corredor e viu, no fundo, erguendo-se quase tímida, a bandeira, sua bandeira, negros riscos sobre a prata, como se fossem lanças de guerra. Ao redor dela, homens caídos choravam diante dos restos de suas pernas, outros procuravam seus rostos e alguns jaziam, olhos fechados em agonia, revelando a sombra da morte.
Levantou-se e começou a correr por entre os corpos. Trincheira, cavado trapo de terra, sulco de lavra, cova de sepultura. Os paulistas, já sem sangue nas veias nem sopro nos lábios, exibiam as faces puras dos santos incorruptos. Percebeu, tão rapidamente como a lufada de ar vinda do bater de asas de uma pomba, que estava no coração do estado, no corpo místico de São Paulo.
Sempre quis morrer ali.
E desejou isso durante toda a vida. Subia os muros da barricada como se se erguesse nas próprias feridas, abria os braços em cruz, recebia os disparos que o perfuravam feito espinhos e chicotadas, até que não sobrasse mais nada de si e seus pedaços se desfizessem no ar, borboletas de sangue espalhando-se pelo Vale do Paraíba, flutuando sobre o litoral e indo subir a serra do Itaqueri, fazer todo o percurso do Tietê, recaindo no Alto do Vale do Ribeira e descansando nos Grandes Lagos.
Sonhava isso agora mesmo, no dia de sua morte. Há algum tempo já sentia-se fraco. As penas não correspondiam ao comando dos versos, o peito arfava e o corpo era um fuzil sem munição. Dores agudas no peito lhe acometeram, sentou-se em sua poltrona no quarto; Baby o olhava de pé, sabia que era a hora. Naquele momento, o rosto dela exalava comiseração, sobrancelhas caídas,
engolindo em seco. Estava diferente, mas dentro daquela casca de mulher ainda estava guardada a musa com a qual Guilherme havia casado.
Lembrava-se dela esguia e magra, pele branca como espumas do mar, posando para Reis Júnior, vestido dourado, cabelo chanel, lábios vermelhos mas discretos, olhar blasé, de cima para baixo, de quem conhece sua própria estatura. Di Cavalcanti a retratou de frente, face dura e pupilas divididas de quem quer manter as atenções em duas coisas diferentes; suas roupas e o fundo do quadro fundiam-se em texturas e ondas que pareciam distorcer-se diante de sua presença. Segall representou-a torta, caindo sobre si, em sua introspecção diária e atrás dela as formas e cores se abrem como o pensamento caótico. Somente Anitta pintou Baby tal qual Guilherme a enxergava. Vestido branco de alças finas, ombros e peito à mostra, lânguidos e alvos feito um busto grego, onde tantas vezes se deitou, postura altiva de deusa Minerva e atrás dela uma luz, auréola de anjo moderno e profano.
Tudo tornou-se a sombra de um sonho. De repente é jovem, levanta-se da sua poltrona e desce as escadas da Casa da Colina, iluminada, circulam por ela Oswald, drink na mão, fala alto, o puxa para um abraço e ri; Brecheret, num canto, com sua habitual boina, conversa baixinho com Baby, encantada com a nova escultura que ele lhe deu de presente; Botto recita seus novos poemas, Guilherme lembra-se que ele morreria atropelado pouco tempo depois. Mario, naquela altura, já não era vivo.
Seu velho amigo lhe vem à memória, e num piscar está diante dele. É o MASP, e Andrade observa calmamente alguma coisa, alto, magricela, sorriso largo e óculos miúdos. Um espetáculo retém sua atenção: no grande auditório uma populosa platéia, e em cima do palco Ronald de Carvalho recita Bandeira enquanto vaias lhe são disparadas. Vem um vulto e já é Heitor que se apresenta, descalço, regendo. As notas, formas, cores e versos se misturam em uma confusa aquarela e o mundo torna-se cinza.
Vestido novamente em trajes militares, faz edições manuais de um jornal. Um companheiro lhe pergunta, vamos vencer? Olha para o lado, se perdermos, perderemos como paulistas. O alarme soou, vinham os aviões voando outra vez, mais baixos que nunca, disparando suas bombas que ao caírem no chão se desmancharam em pétalas de petúnias, papoulas e azaléias, um aluvião de flores desabrochadas que encobria os olhos.
Despertou. O médico estava em sua frente, Baby ao fundo, mãos no rosto. — Não adiantará levá-lo ao hospital.
Iria morrer. Não como no seu sonho, mas em sua casa, deitado, inerte feito um desertor. Não queria ouvir o pranto da mulher, e sim os estouros dos fuzis e granadas, gritos de vitória, vendo a bandeira de São Paulo imponente sobre a treva do vale.
— Subiu ao coração. A dor é tão forte que delira.
Mas não delirava, só sentia nas veias o fluxo incessante das memórias percorrer-lhe. Recordava-se das idas ao Trianon, o eco ao longo dos seus passos, passeios no Parque D. Pedro II, travessias no Viaduto do Chá, orações na Igreja da Sé, as películas que assistiu no Cine Metro. Vinham-lhe versos dos sonetos que escreveu, das traduções de Tagore, do Se de Rudyard Kipling, do discurso de Antígona contra Creonte, dos endemoniados de Baudelaire. Lembrou-se do ano em Portugal, meu Portugal, no exílio do pós-guerra. Da morte de seus amigos, um por um. Das reuniões dos “hominhos”. Do prêmio de Príncipe dos Poetas. Do discurso na Academia Brasileira de Letras, das capas de livros que projetou, das críticas cinematográficas que escreveu, das músicas, dos brasões de armas e das bandeiras.
Então, tudo se foi. Ficou somente o silêncio. E o escuro. Seu nome, qual era? Guilherme. De quê? Almeida. Quem é? Não mais se lembrava. O passado seria apagado pelos tratores do mundo, pela profusão das coisas acontecidas, o vai-e-vem dos carros, os arranha-céus, as demolições, o esquecimento. São Paulo, o que era? Das velas brancas de Martim Afonso e da sotaina negra de Padre Anchieta viria uma cidade cinza, monumental, onde em cada esquina se ergue um torto coliseu de aço. O Trianon morreria sufocado, os cinemas seriam demolidos, a Sé tornaria-se inabitável. Em mim, sem mim, fim; São Paulo, São Paulo, que morres comigo.
Sobrou-lhe uma última lembrança. O jovem poeta soldado correndo com seu fuzil pelas trincheiras enquanto a bandeira desliza no ar, linhas negras de um doloroso poema sobre a página branca, disparando seus versos de glória pelo infinito.
— Enterrem-me… — sua voz saía pela última vez, mas ainda carregada e forte como a de jovem — enterrem-me onde eu deveria ter morrido.
E assim seria feito. Sepultariam o poeta em meio aos mortos de 32, no Mausoléu do Ibirapuera, para que passasse a eternidade lutando. Baby e os filhos o observavam quando disse essas palavras, ameaçou um grito e bufou, no suspiro da alma que ia, e fechou os olhos, tranquilo como o soldado que vence a guerra.
– Conto dedicado a Guilherme Diniz