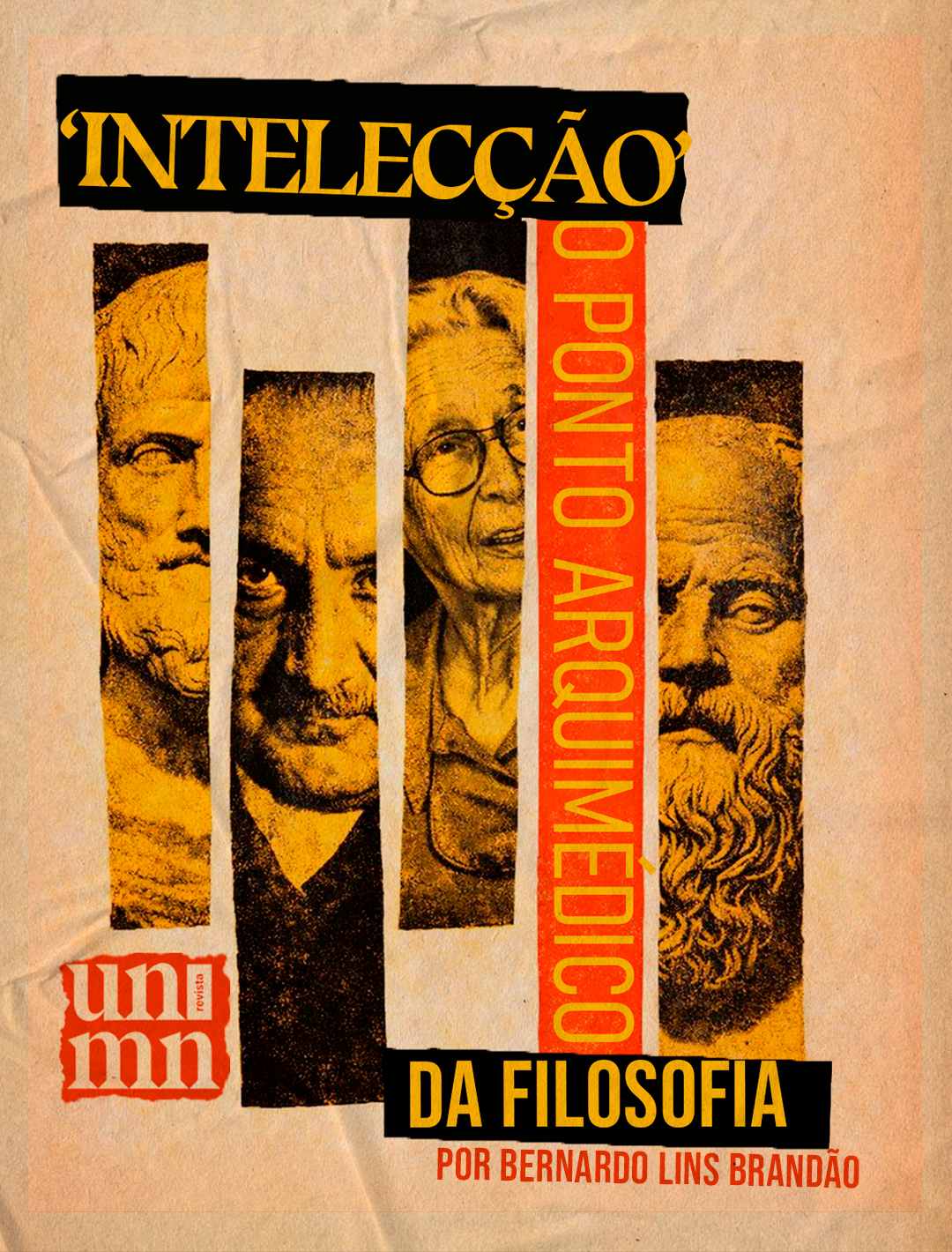A intelecção, a que os antigos gregos se referiam pelo termo nóesis, é o ponto arquimédico da filosofia. É quando a entendemos que se abrem para nós a filosofia de Platão e Aristóteles e a possibilidade mesma da metafísica. Não é fácil, no entanto, compreendê-la: desde a revolução nominalista na universidade medieval, o pensamento vem sendo cada vez mais reduzido a esquemas imagéticos e relações lógicas. Isso porque, de fato, pensamos boa parte do tempo como nominalistas. Quando concebemos um cavalo, ao contrário do que poderia nos sugerir uma leitura apressada de manuais de lógica clássica, não captamos a inteligibilidade do que é ser um cavalo. O que temos em nossa mente é uma imagem esquemática feita por abstração a partir da lembrança dos cavalos que conhecemos. Com efeito, já o próprio S. Tomás reconhecia que nossa inteligência limitada não capta com facilidade as essências das coisas (rerum essentiae sunt nobis ignotae, Quaest. disp. de veritate 10, 1), mas, muitas vezes, deve se contentar em compreender as formas mais gerais. Sabemos que a essência do ser humano é ser um animal racional, mas qual é a essência de um cão? Em que ela seria diferente da essência de um lobo? Nesta diferença entre espécies biológicas, teríamos também uma diferença entre espécies ontológicas?
Na verdade, estamos o tempo todo a misturar imaginação e intelecção. Quando pensamos em um cavalo, construímos uma imagem esquemática de um cavalo. Mas também entendemos que o cavalo é um corpo, que é vivo, que é um animal. Tudo isso é intelecção. Como distinguir entre imagem e intelecção? A imagem, palavra que uso aqui para traduzir o termo grego phantasía, é o que vemos (ou ouvimos, sentimos, etc.) em nossa mente. Intelecção é o que compreendemos, para além de qualquer imagem.
Uma maneira de captarmos a diferença entre elas é seguir a trilha de Leibniz: as figuras que construímos em nossa mente são sempre contingentes. Quando penso em um triângulo, o triângulo que imagino se refere, de alguma maneira, a todos os triângulos. Ele é a forma esquemática a partir da qual posso pensar o triângulo. Mas, mesmo essa forma, por ser imagética, tem algo de concreto: posso sempre pensá-la maior ou menor, de uma cor ou outra, etc. Quando fazemos uma intelecção, ao contrário, captamos uma relação de necessidade, algo que é de uma certa maneira e não pode ser diferente do que é. Para dar um exemplo, a demonstração matemática de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus será válida em todos os tempos e lugares, para todos os triângulos reais e possíveis. Do mesmo modo, quando afirmo que o ser humano é um animal racional, isso vale para todos nós: ser um homem é necessariamente ser um animal e, ao mesmo tempo, ao contrário dos outros animais que conhecemos, ser capaz de fazer uma intelecção.
Para recebermos os frutos filosóficos da compreensão adequada da noção de intelecção, não devemos captá-la apenas teoricamente. Como propunha Bernard Lonergan, devemos fazer uma auto-apropriação desta noção, isto é, devemos aprender, através dela, a reconhecer os nossos próprios processos mentais. A melhor maneira de fazer isso é justamente através da matemática. É por isso que, na entrada da Academia platônica, se encontrava a famosa inscrição: não entre aqui quem não for geômetra. A geometria, para Platão, não era um fim em si mesmo, mas, justamente, uma maneira de fazer o discípulo perceber a natureza das operações de seu intelecto, sem o que a metafísica das formas inteligíveis seria apenas uma hipótese inverossímil.
Quando estudamos uma demonstração matemática, a situação inicial é de perplexidade. Lemos a demonstração ou ouvimos a explicação do professor, mas tudo é escuro para nós. Entretanto, se continuamos a tentar entendê-la, subitamente (os platônicos usavam, para esse momento, o termo grego eksáiphnes), é como se acendesse uma luz inteligível no interior de nossa mente e a veracidade da demonstração se tornasse para nós clara como o sol do meio-dia (a teoria da iluminação agostiniana, mais do que uma teoria, é uma imagem que descreve o processo). Na demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, no momento em que a compreendemos, continuamos a ver, se desenhamos o triângulo em um caderno para facilitar o estudo, ou ao menos a imaginar o mesmo triângulo, sem nenhuma alteração. No entanto, tudo mudou: captamos, na mesma natureza desse triângulo (e de todos os triângulos possíveis), algo que para nós não estava presente antes: uma relação de necessidade. É como se uma quarta dimensão do real, para além das três dimensões que percebemos pelos sentidos, se abrisse para nós, aquela que Platão chamava de inteligível. Nesta situação tão banal, o estudo de uma demonstração matemática, algo extraordinário acontece: transcendemos o mundo dos sentidos e nos abrimos para uma nova dimensão da realidade, que não é apenas necessária (e não contingente), mas também universal (e não particular) e imutável (e não continuamente sujeita ao devir). Quando fazemos uma intelecção, escapamos da contingência da matéria e vislumbramos algo da eternidade.
É aqui que podemos perceber o abismo que nos separa dos outros animais. Não se trata apenas de uma questão quantitativa, de um maior poder cerebral, mas de um salto qualitativo. Os animais, mesmo os superiores, vivem no mundo dos sentidos. Alguns podem sonhar e ter pensamentos rudimentares a partir dos esquemas imagéticos que o seu cérebro comporta. Os seres humanos, contudo, ao mesmo tempo em que vivem neste mundo, também têm uma abertura para o universal, o necessário e o eterno. Um primata mais inteligente pode descobrir que é possível usar um pedaço de pau para pegar uma banana. Mas nunca o veremos tomado pela angústia heideggeriana de se entender como um ser para a morte.
É essa capacidade humana de se abrir, através da intelecção, para uma dimensão superior do real, que está na base da mais importante prova da imortalidade da alma da tradição da filosofia clássica, de Platão (que a expõe no Fédon) a Tomás: se conseguimos perceber algo que é independente do espaço e do tempo, então deve haver algo em nós que é capaz de transcendê-los, algo que necessariamente deverá ser imaterial, já que a matéria, sempre concreta e sujeita a mudanças, não pode, por princípio, transcender as realidades materiais. É isto que em nós é imaterial, nosso intelecto (os antigos falavam em nóus), o que sobrevive à dissolução do corpo.
Lonergan fala em dois insights: o primeiro é essa a captação de uma realidade inteligível para além dos sentidos e da imaginação. O segundo é o juízo, a partir do qual fazemos afirmações e negações. Uma coisa é compreender a essência do ser humano ou a demonstração da soma dos ângulos internos de um triângulo (o primeiro insight); outra é voltar nossa mente para o concreto e perceber que uma determinada intelecção se aplica em uma situação ou outra, que ela não é apenas uma mera possibilidade, mas algo presente nos entes concretos (o segundo insight). Em outras palavras, a intelecção capta o inteligível; o juízo, o ser.
Voltemos ao primeiro insight, a intelecção: segundo Aristóteles, a nóesis se dá a partir da phantasía, isto é, a intelecção se faz a partir da imaginação. É nos esquemas imagéticos que temos em nossa mente que nosso intelecto trabalha. É por isso que, quando estudamos geometria, desenhamos as figuras ou, ao menos, se temos alguma prática, as imaginamos com clareza. É a partir da figura geométrica que entretemos em nosso imaginário que podemos captar as relações de necessidade. É por isso que, quando alguém nos explica algo muito abstrato, apenas entendemos o que está sendo dito se concebemos exemplos, que não são outra coisa que a instanciação concreta, na imaginação, da verdade abstrata que está sendo comunicada. Quando imaginamos o exemplo, nosso intelecto pode realizar a nóesis e, assim, compreendemos o que foi falado.
Susanne Langer dizia que o símbolo é o ponto de partida de toda intelecção. Ainda que ela fosse, no fim das contas, uma nominalista, se aprofundamos o seu pensamento, tal como apresentado em Filosofia em nova chave, a partir da filosofia do insight de Lonergan, acabamos por perceber que ela não se encontra tão distante assim de Aristóteles. Sua noção de símbolo é uma versão mais refinada da phantasía aristotélica. E, de fato, a partir de Langer, Lonergan e Aristóteles, podemos definir o símbolo como o esquema imagético capaz de suscitar em nós a intelecção.
Os símbolos, entretanto, especialmente os mais profundos, nunca são unívocos. Uma imagem que entretemos em nossa mente pode nos levar às mais variadas intelecções. Uma narrativa literária como a Ilíada, por exemplo (que também pode ser entendida, em sua unidade, como um símbolo), pode nos fazer entender melhor o horror da guerra, mas também a oportunidade de glória que ela contém; a grandeza de Aquiles, bem como a extrema violência de que ele é capaz; a inevitável natureza agônica da existência e o valor irrepetível de cada ser humano tombado em combate. Essa é a diferença entre o símbolo, polissêmico por natureza, e a alegoria, imagem da qual se espera alguma univocidade.
Em suma, a atividade primeira da inteligência é a nóesis. Sua realização, no entanto, depende da phantasía, de um esquema imaginativo prévio que não apenas é sua condição necessária, mas que também sempre a acompanha, emprestando a ela sua concretude. Não existe, em nossa mente, a demonstração matemática da soma dos ângulos internos de um triângulo fora do triângulo que concebemos. O pensamento humano é muito mais do que aquilo que imaginamos. No entanto, sem a imaginação e o símbolo, ele não passa de uma série de palavras vazias.