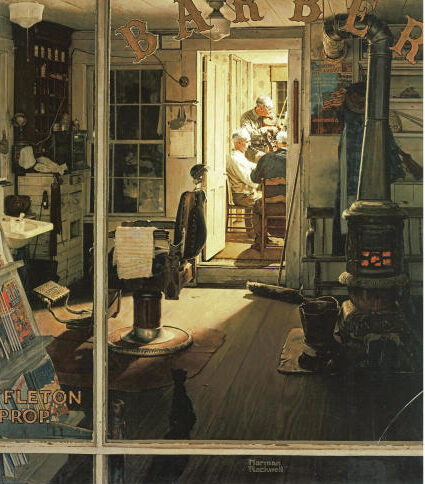— por Raul Martins Lima
Numa rua sem saída existe uma casinha.
Pequena, simples, sem janelas na lateral porque espremida entre duas outras casas com idêntica estrutura — ou quase idêntica. A casinha é limpa e asseada. Um dentinho branco e perfeitamente esmaltado numa fileira de dentes cariados e desconjuntados.
Na frente, uma profusão de plantas domésticas quase esconde-lhe a porta e janela. A parede é branca, de tijolinhos. Entre a porta da casa e o portão da rua, menos de um metro de distância.
Digamos logo: a casa fica numa favela. Mas ali não se veem pichações. Os tijolinhos não têm musgo nem manchas pretas escorrendo-lhes pelas ranhuras. A porta é nova. Os vidros da janela, intactos.
Entramos e um cheiro de frescor sobe e se desprende de tudo: do sofá limpo e coberto com almofadas coloridas, do rack tão simples quanto imaculado. Não se vê sinal de pó ou desalinho. O piso é rútilo.
As fotos de família vão se multiplicando: um largo sorriso numa parede, olhares felizes jogando luz duma mesinha de centro e a família abraçada em cima da prateleira de uma estante escura, à moda antiga.
E além dos olhares, sorrisos e abraços?
Ternos. Faça chuva, faça Sol, faça um calor da Somália. Terno. E gravata. E saias (para as mulheres). Aqui e ali rendadas ou com pregas, invariavelmente abaixo dos joelhos e às vezes cobrindo canelas. Cabelos longos. A ponto de chegar à cintura e roçar o posterior da coxa. Fora as bíblias.
Já percebeu, né? Ali são todos crentes.
E preste atenção: eu não falei “evangélicos”. Não falei “gospel” ou “amantes de Jesus” ou worshippers com calça slim e óculos da Zerezes. Eu falei crentes.
Gente do reteté. Não sabe o que é reteté? São as línguas estranhas. São os irmãos chorando e rodopiando num culto. Esgoelando sílabas que dizem ser angelicais — a gramática dos Arcanjos. A língua sagrada dos Querubins sendo metralhada por uma irmãzinha suada, frenética, com os olhos fechados e o salto marchando no piso com a autoridade dum emissário divino.
Estou falando de o sujeito colocar um terno, cozinhando sob o calor imoral de um domingo à tarde, e aguentar o suor, a camisa de segunda linha encharcada no sovaco e grudando-lhe nas costas, com o orgulho de quem aguentasse a farda do exército numa guerra.
Porque os crentes estão numa guerra.
No barzinho da esquina esconde-se Satanás; o sertanejo universitário são guinchos cruentos de demônios.
No mundo de um crente raiz, o visível é simples aparência do invisível.
Anjos, com espadas flamejantes, protegem a longura do cabelo de uma jovem tentada pela sedução mundana e serpentina de cortá-lo na altura dos ombros e fazer uma chanel. O irmãozinho que faltar ao culto de domingo já deixa o pescoço, antes ungido, à mercê de um súcubo, de um Baal em miniatura — a irmã da igreja foi orar e numa visão soube que um vulto escuro rondava o seu quarto…
Tudo é grave. Tudo é eterno. Tudo é horrivelmente simplificado. E a sinceridade não exclui a ignorância.
Estou falando do assembleianismo raiz, da velha guarda. Do povo que se orgulha de levar uma Bíblia debaixo do braço e ser diferente do mundo. Que, seja lá quais críticas lhes possamos fazer, são sinceros.
O povo com o qual cresci na igreja Assembléia de Deus. A herança espiritual que foi deixada à família pela minha avó, pernambucana de raça e pele rija cor de bronze.
Mas o que tudo isso tem a ver com a casinha confortável?
Você precisa saber quem mora naquela casinha. Quem, depois de uma vida quieta e mansa na igreja, fez o impensável.
Você precisa saber qual é a atmosfera espiritual para começar a ter uma ideia de como é alucinada, estranha e ao mesmo tempo comum a história que tenho para lhe contar a partir de agora.
Como o invisível existe. Mas nem sempre é aquele que imaginávamos.
Poderia ser uma história de Dostoiévski. Mas foi real.
E eu conhecia todos eles.
***
A mesa tremeu.
De leve. Ninguém teria visto se não estivesse com o olhar cravado nela. Mas tremeu. Depois, o pé de madeira deslizou alguns milímetros pelo piso impecável. Estremeceu como alguém sentindo um arrepio de pavor na espinha.
Ninguém tinha mexido na mesa.
Em seguida, um tilintar sutil, um chacoalhar frágil ali perto. Numa cristaleira, os copos e pratos começaram a vibrar. Uma selvageria contida, quase uma sutileza de alerta: “eu posso quebrar tudo se quiser.“
Não havia ninguém no cômodo.
De repente, tudo na casa começou a se mexer: as fotos se moviam pelo rack, o vitrô basculante chacoalhava, a maçaneta estremecia. A tampa de vidro do fogão, levantada, ameaçava descer com a violência de um machado. Uma raiva atmosférica, uma exasperação impalpável alastrava-se pela casa. Como se ela estivesse sendo violada.
E toda a família estava fora, no culto de domingo à noite.
***
Eu nasci numa família evangélica. Minha vó, pernambucana do queixo forte e quadris largos, com a pele curtida pelo sol, umas pernas troncudas, converteu-se quando minha mãe ainda era menina.
Uma de minhas tias, ainda novinha, tinha contraído certa doença nos ossos. Talvez ficasse paraplégica. Talvez morresse.
Minha vó virou Pernambuco de cabeça para baixo à caça de uma cura espiritual: da sacristia aos terreiros, nenhuma força sobrenatural ou entidade sutil queria ajudar sua filha. Até que entrou numa igreja evangélica.
Corrijo: uma igreja de crente.
Ali minha tia foi curada. E minha vó se converteu.
Com quase dez filhos, apanhando de um marido bêbado e cabra-macho no pior sentido do termo, minha vó não tinha saída. Pelo menos aqui neste mundo, não tinha.
Quanto mais apanhava, quanto mais era traída, humilhada e escorraçada, tanto mais se entregava à religião. Logo, a rótula do joelho foi se tornando rija como pedra. O tendão do calcanhar dupla e triplamente denso, para aguentar os pés torcidos. Porque a mulher fiel orava ajoelhada dia e noite. Muitas vezes, mal pregava o olho na madrugada, o invariável coque oscilando sutilmente enquanto o Alfa e Ômega inclinava-lhe o ouvido no vazio da noite.
Não demorou para ela ter visões. Premonições.
Anos depois, diria à minha mãe que dali a pouco ela ficaria grávida. Já casada, com dois filhos, ela não queria um terceiro. Não agora. Aliás, estava evitando uma gravidez com anticoncepcionais.
Sem aviso prévio, à queima-roupa, mal minha mãe chegou à casa da matriarca lá no Guarapiranga, recebeu dela um:
— Você vai ter um filho, tá?
— Impossível, mãe, estou evitando.
— Mas você vai ter um filho.
Pouco tempo depois, estava grávida. De mim.
Foi num ambiente assim que eu nasci e cresci. Com vultos, premonições e convulsões espirituais da natureza. Com visões que subitamente, num quartinho escuro às horas mortas da madrugada, Deus escolhe revelar a uma senhora de joelhos, orando em vigília. Com enigmas oníricos nos quais se entreviam os segredos de ontem, hoje e amanhã.
E foi assim que de repente, enquanto uma família de crentes experimentava Deus num culto de domingo à noite, um rebuliço estranho começou a chacoalhar sua casinha vazia…
***
Domingo à noite.
O quente e amarelo de uma luz forte paira sobre a escuridão. Está tudo quieto. De repente, a luz se mexe. Vira à esquerda, aqui à direita e ocasionalmente salta e mergulha. Vasculha o alto e revira o baixo.
O bairro é simples. Eu já morei ali perto e sei como é.
As ruazinhas são labirínticas. Cravejadas de buracos, com lombadas construídas pela gente que mora ali sem critério ou explicação. Lombadas que mais parecem muretas de concreto. Cachorros magrelos, com o pelo eriçado e encardido, reviram um saco de lixo na esquina. No meio do escuro surge a luz igualmente encardida dum barzinho, com fileira deprimente de pingas largadas numa prateleira de madeira podre.
As ruas quase parecem trincheiras. A partir daquela noite, isso faria sentido.
Porque a mesa não tinha chacoalhado por alguma força demoníaca ostensiva, como num filme de terror. Não. Talvez isso teria sido mais fácil. A batalha teria o glamour de uma guerra espiritual reservada às elites do batalhão divino. O profeta Elias contra os sacerdotes de Baal.
Mas não foi bem isso.
Quando chegaram à esquina da casa, o que tinha violado a casa não demorou a violar também o carro. Impregnando-se de forma pegajosa no metal, reverberando as janelas. Violou também seus ouvidos.
Da casa do vizinho subiam batuques selvagens e animalescos. Pancadas surdas, grotescamente altas, que um deles tinha resolvido ligar no som às dez horas da noite em pleno domingo. Era funk.
O tal vizinho conhecia os filhos do casal. Tinha crescido ali. Era mais novo, e anos atrás um moleque gente fina e risonho. Corpulento (para não dizer gordo), tinha o olhar vivo e muita energia. Fora naturalmente feliz.
Fora.
Agora tinha crescido. Seu pai e mãe não sabiam o que era educação. Nem o que era carinho, cuidado. O moleque fora criado na rua, com ranho duro no beiço suado. Sem correção, sem exemplo, sem atenção. A corpulência flácida da infância foi se transformando numa sólida placa de músculos. A puberdade fez sua parte do serviço — e os pais não fizeram a deles.
Quase todo sábado rolava um pancadão na esquina de baixo da favela. Os batuques e a zorra infernal alastravam-se por duas, três quadras. Gritos, guinchos esganiçados, pipocos de motos esgarçadas nas calçadas, o tilintar de garrafas e o batuque… o batuque ininterrupto, ritmado, obstinado, aborígene. Meninas de quatorze e quinze anos esfregando os quadris magros em sujeitos no meio da rua. Mais gritaria. Mais garrafas. Mais pipocos. E o batuque onipresente…
Essa foi a educação do vizinho que agora tinha começado a ligar o som na sua casa, dez horas da noite, em pleno domingo.
A força invisível chacoalhando mesas e janelas.
Ainda iria chacoalhar coisas muito piores.
***
Existe uma coisa que eu ainda gostaria muito de fazer: juntar algumas pessoas e lermos a Bíblia juntos.
Mas não estou falando duma leitura bíblica de estudos, como na Igreja. Queria pegar a Bíblia para que a pudéssemos ler como se fosse um livro “normal”. Sem projetar sobre o texto esta ou aquela visão teológica. Sem adivinhar-lhe o sentido de antemão. Apenas lê-la como uma história. Como se fosse uma obra de literatura, imaginando os personagens menos como símbolos de conduta e mais como gente como a gente. Seres humanos, de carne e osso.
E digo isso porque quando eu, Raul, tentei fazer algo assim… a coisa foi absolutamente reveladora.
De repente, percebi que Noé dançou pelado na frente dos filhos porque estava bêbado. Que por um triz não aconteceu um incesto com Ló. Que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, tinha um harém. Que Davi — segundo o próprio Deus aquele com um coração mais próximo ao Seu — tinha enviado um homem para morrer na guerra a fim de encobrir seu adultério. Que na história dos patriarcas existem sacanagens, mentiras e fraquezas que lhes renderiam mil cancelamentos. Até prisões.
Subitamente eu percebi a profunda humanidade dos personagens.
Percebi que a Bíblia não se recusa a mostrar suas falhas ou fingir perfeição.
Que, se por um lado exige-se perfeição, pelo outro a Bíblia não se cansa de mostrar as imperfeições dos grandes heróis: a soberba de Moisés, a covardia de Elias, a fanfarronice de São Pedro.
Que continuamos imprevisíveis, irascíveis, orgulhosos, sacanas e violentos — basta um empurrãozinho. Que a essência do cristianismo é o perdão, não a perfeição.
Era o que a família de crentes, a duras penas, iria começar a descobrir naquele domingo à noite.
***
Mais de um ano se passou naquele inferno. E o vizinho ia ficando cada vez pior.
Pudera: o comum naquele bairro é o jovem cair na delinquência. Aspiração na favela é carro com turbo e raspando a lataria no asfalto. É dar pipoco com a CG, estrangular a moto e arrancar do escapamento encurtado uns tiros enquanto sai de grau. É sarrar novinha no pancadão e varar madrugada jogando sinuca na esquina, rolando na língua já dormente um Black Label.
A irmãzinha não aguentava mais. Mal recebia um dos filhos em casa, em vez de lhes dar um farto almoço e sorvete Zequinha na sobremesa, não se aguentava e esbravejava contra o vizinho.
A raiva se misturava à devoção e a crente, furibunda, punha a vadiagem alheia na conta de Satanás. As frases, antes quietas, agora se inclinavam ao outro polo baiano: eram gritadas.
— É o inimigo. Um laço, filho, laço de passarinheiro. A irmã Vera teve uma visão comigo muito tempo atrás, ó! Falou que Deus iria permitir um laço. É o inimigo, tô falando, menino. Um laço!
Não conseguia mais orar em casa. A Bíblia permanecia aberta sobre a mesa, mas de tanta putaria no ar parecia quase conspurcada.
No círculo de oração, quando punha os joelhos no chão e fechava os olhos, como se concentrar?
A pálpebra do olho esquerdo tremia incontrolavelmente, as costas doíam pela tensão acumulada. Um sacrifício ficar ali ajoelhada, quieta, sabendo que o maldito vizinho poderia estar macetando a parede do seu quarto naquele exato instante. Os gemidos de bicho subiam-lhe à cabeça e embaralhavam suas orações.
Respirava fundo, organizava as ideias, e, com obstinação evangélica, procurava no seu interior a antiga placidez… logo, porém, o presente se forçava contra as memórias e retorcia as imagens até transformá-las outra vez na cara de escárnio do vizinho. Naquele sorrisinho debochador, que lhe rasgava o rosto demoníaco de cananeu.
Redobrou o esforço, começou a orar em voz alta para sufocar os batuques que ecoavam no seu corpo teso, e nem aquilo funcionou. As outras irmãs começaram a perceber sua agitação, notaram o desalinho.
A raiva aumentou. Ela odiava ser notada.
De repente, um grito.
— EEEEEEEEEEITA.
O burburinho orante parou na hora.
Pá.
Pá.
Pá.
Eram palmas. Lentas, com longas pausas de completo silêncio entre uma e outra. Em seguida, uma risada chorosa, entrecortada por soluços. Uma risada trêmula, que oscilava e às vezes caía no choro, às vezes subia de tom e chegava quase à raiva.
— EITA DEUS.
Uma das irmãs tinha caído num estado peculiar de excitação. Não era mais ela própria: era a voz de Deus. Todos a conheciam. Todos sabiam o que viria a seguir: uma profecia.
Uma voz trovejante encheu a igrejinha. A risada estridente foi tomando uma forma estranha. Aos poucos, a língua começou a enrolar, as frases pareciam se desfazer sob o influxo de alguma força descomunal e invisível. A pupila girou dentro da órbita. As palmas ficaram mais fortes, o baque surdo foi se tornando selvagem. O corpo dela tremia, o coque oscilava. Surgiram as línguas estranhas:
— SHALABANAIA. IDECANTA.
Silêncio absoluto.
— EITA DEUS. LABAXURIAS.
O choro de alguns se intensificou, tornou-se quase convulsivo.
— FALA. FALA, DEUS.
Uma tensão de expectativa, uma ânsia quase palpável foi se acumulando… todos queriam e não queriam ouvir a voz divina.
A profeta não se aguentou e, com línguas estranhas queimando sua garganta, levantou-se. A testa de ébano, o olhar esbugalhado. De vez em quando martelava o piso marmorizado com a bota pesada. A saia grossa farfalhava freneticamente. O brancor dos dentes enormes relampejava na igreja. Ela começou a marchar.
E todo mundo sabia a quem a mensagem seria entregue.
Deus iria falar. Gostasse a irmã ou não.
***
No geral, a irmãzinha receberia a profecia com máxima reverência. Antes já tinha escutado profecias verdadeiras. Divino dito, divino feito.
Numa situação normal, ela já se encolheria inteira, esmagada pela antecipação de ter uma conversa direta com o Criador e Juiz do universo. Nuca eriçada, calafrio na espinha e calcanhares balançando com uma expectativa quase insuportável — mas, de alguma forma, profundamente prazerosa.
Só que não estávamos numa situação normal.
A profeta continuou a marchar. O salto ecoava fatídico. A saia farfalhava como as asas de um Querubim. Ninguém tinha coragem de levantar os olhos.
— EITA.
— FALA!
Agora, porém, a irmãzinha não estava encolhida. As canelas fortes balançavam, mas não era de expectativa. As mãos crispadas, o punho doendo. A cabeça latejando.
A imagem do moleque zombeteiro não lhe saía da cabeça. As línguas estranhas, o salto oracular anunciando a presença divina, os gritos, o choro, os murmúrios respeitosos — tudo o que antes a envolveria num conforto místico agora a exasperava. Tudo lhe dava raiva, tudo a deixava quase louca de fúria.
Quando a profeta começou a se aproximar, a irmãzinha não aguentou mais. Alguma força desconhecida, irresistível, impeliu seus joelhos e a pôs de pé com uma brusquidão selvagem. A profeta hesitou.
A irmãzinha pegou a bolsa, enfiou a Bíblia debaixo dos braços e saiu com violência pela porta da frente.
Lá fora ouviu-se uma pancada.
O portão socado.
Ninguém mais falou línguas estranhas.
***
Naquela noite, o marido não a reconheceu. Sua esposa parecia uma casca vazia. Algum pedaço de carne sem consciência, funcionando mecanicamente. Como se não houvesse ninguém ali dentro. Foi com o olhar vago que ela fez a janta. Com olhar vazio que lavou a louça. Com olhar perdido que tomou banho e se vestiu para dormir.
Ela escovou o longo cabelo preto, liso e brilhoso. Absorta, quase em transe. Quanto mais calma, mais o marido — um sujeito simples e bronco — ficava inquieto não sabia com o quê.
Beijaram-se.
Apagaram as luzes.
Ela se deitou.
Ficou alguns minutos completamente imóvel, sem fechar os olhos.
De repente, um tremor na sua mão esquerda. Um tique, um estremecimento quase imperceptível. A mão parecia ter acordado.
Os dedos se moveram. Primeiro, o dedão se contraiu involuntariamente. Como se houvesse levado um choque. Em seguida, o mindinho serpenteou. A palma da mão sofria espasmos.
Súbito, os cinco dedos se moveram juntos.
O punho se fechou e um espaço vazio ficou entre os dedos cerrados. Como se a mão agarrasse algo no escuro.
O marido, já num meio sono, virou-se na cama e esticou o braço para fazer-lhe um carinho na cabeça.
Ele só não sabia que embaixo do travesseiro havia uma faca de cozinha.
***
Breu.
O silêncio preenchia a madrugada. Não se ouviam as folhas da árvore à janela. Um rangido ou roçar suave na cama. Um sinal de a geladeira estar ligada lá embaixo. Nada. Absolutamente nada.
Os olhos dela estavam vidrados no teto. As pupilas dilatadas engoliam o escuro. O sono não vinha. Como não viera nos últimos três ou quatro dias.
Ninguém sabia. Só ela.
Sombras bizarras dançavam no teto. Um vulto parecia surgir à porta; profecias incoerentes ecoavam no mutismo do quarto. Fios de uma luz brilhante surgiam-lhe no canto dos olhos. Serpenteavam e sumiam. Pontadas na cabeça. Pescoço enrijecido.
Os contornos de um risinho de escárnio desenhavam-se no teto.
A mão continuava fechada sobre o vazio.
A faca embaixo do travesseiro.
Súbito, do outro lado da parede, o barulho de um botão.
Um peso se jogando contra algo macio. Papel de seda amarfanhado, pancadinhas secas.
E aí… uma batida. Contínua, ritmada. Começou baixa. Aumentou. E depois aumentou mais. Uma voz asquerosa e conhecida acabou com o silêncio. Duas e pouca da manhã, plena terça-feira. O vidro da janela vibrava. Cada batida parecia ser uma faca entrando no seu crânio.
Ela ligou a televisão. YouTube. Som de chuva. No máximo.
Por trás do som, por baixo da cama e quase por baixo da sua pele continuava a vibração infernal das batidas.
A irmãzinha se levantou.
Calçou um chinelo, nem lhe passou pela cabeça cobrir a camisola. O cabelo enorme solto. Depois, pensou um pouco melhor e pegou um blusão quente no guarda-roupa. Era do marido, cobria-lhe os braços e as mãos inteiras.
A maçaneta girou e a porta da rua abriu. Não estivera trancada.
O frio cortante da madrugada atacou seu rosto. Ela não sentiu. O olhar injetado mal conseguia enxergar alguma coisa à frente. A visão turva, uma dor aguda na escápula. Ficou em pé diante da casa do vizinho, imóvel por vários segundos, quase um minuto. Então bateu palmas. Bateu palmas e gritou com selvageria. Bateu palmas, gritou com selvageria e chacoalhou o portãozinho velho com as mãos enregeladas, já machucadas pelo frio e violência das palmas e do chacoalhão.
— EI.
— EEEEEEI
— SEU ENDIABRADO
A voz saiu com uma ferocidade enlouquecida. Esganiçada. Mais pontos de luz no canto da vista, pedaços incoerentes de profecias girando-lhe na cabeça, mãos e braços formigando.
— um demônio, um demônio, Satanás, um laço, demônio…
O vizinho surgiu à janela. Ela o viu pôr a cortina de lado e espiar com os olhos amarelos quem estava ali fora. Quando a viu, além do olhar outra coisa amarela relampejou: um sorrisinho debochado.
Ele girou a chave devagar, apertou a maçaneta com toda a tranquilidade do mundo. A portinha velha, carcomida pela ferrugem e fora de prumo, raspou no piso manchado.
— Que foi?
Nada.
O sujeito tinha um olhar encardido. Seu físico naturalmente forte já tinha sido coberto por alguma flacidez. A bermuda puída, os pés enormes mal enfiados numa Havaianas pequena demais para ele. Talvez os chinelos fossem da sua mãe.
Esticou o pescoço, arqueou as sobrancelhas e outra vez:
— Que foi?
Nada.
Arrastou os pés com deboche preguiçoso e chegou mais perto da mulher. Daquela irmãzinha da igreja. Não tinha nada contra ela, exatamente. Nem fedia, nem cheirava. Nas outras vezes em que ela viera pedir-lhe para abaixar o som, para não fazer uma zorra em alguma noite aleatória da semana, ele só tinha despachado a tiazinha com algum palavrão e esquecido que a mulher existia.
Ela, não. O que a irmãzinha mais quisera no último ano inteiro teria sido esquecê-lo. Não conseguiu.
Agora, o sujeito ficou curioso e estava começando a achar aquilo até um pouco engraçado. A luz de uma janela acendeu-se numa casa próxima. Um cachorro ganiu.
Ele chegou mais perto. Abriu o portão.
A mulher continuava de pé. Tremia. O olhar seguia a cara odienta com uma espécie de torpor. O vizinho não estava prestando atenção direito. Se estivesse, não teria achado aquilo curioso. Nem engraçado.
Nem teria aberto a porta.
Mas resolveu se aproximar uma última vez e peitar a mulher. Só de tiração. Só porque seria engraçado apavorar a irmãzinha com seus noventa quilos, estufando o peito até a coitada encolher debaixo do seu vulto.
De repente o marido, que acabou acordado pela televisão no máximo, surgiu na porta de casa apavorado e gritando.
Foi num piscar de olhos. Quando o vizinho, num reflexo, virou as costas à irmã, sentiu uma e duas pancadas nas costas. Girou o corpo de volta e viu confusamente os braços da irmãzinha avançando no seu peitoral. Uma, duas, três, quatro pancadas e uma gritaria louca, um olhar ensandecido e choroso na cara lívida da mulher. Finalmente, o sujeito se recuperou do susto e levantou o braço pesado — iria socar aquela desgraçada.
Empurrou a mulher com selvageria e a jogou longe, de cara no asfalto. A raiva lhe subiu à cabeça, os punhos enormes se fecharam e ele deu dois passos à frente.
E aí sentiu.
Uma pontada nas costas. Em seguida, outra. Depois, notou que um líquido descia-lhe do peito. Respirou forte uma vez e o líquido jorrou com mais força. De repente, mil agulhas pareciam estar furando suas costelas. Duas mil agulhas. Uma ardência insuportável, uma queimação horrenda vinha das pontadas. Agora também vinham do peitoral.
A respiração ficou curta, difícil. Uma dor lancinante quase o punha de joelhos toda vez que tentava puxar o ar. Sua energia se esgotou, as pernas ficaram molengas. Desorientado, olhava o peitoral ainda avoado. Balbuciava frases desconexas. Alguém gritava e ele não compreendia nada. Vultos, luzes, tudo girava e rodopiava num turbilhão de estímulos incongruentes.
Tentou voltar para casa, entrar no banheiro e lavar a camiseta. Ficou obcecado com a camiseta suja. O olhar ficou turvo, um negrume foi se apoderando da sua visão até deixar só um pontinho embaçado… caiu mole no chão. Não sentiu a queda, mas sentiu o chão gelado e áspero. Sentiu as pedrinhas do asfalto machucando sua cara. Sentiu a roupa empapada. Agora também sentia a bochecha empapada.
No asfalto havia uma faca suja de sangue.
***
“Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder!”
O som gutural de alguém puxando o ar com sofreguidão.
Desorientada, a irmãzinha se apoiou nos braços e sentou-se. A testa doía. Não a cabeça: a testa. E igualmente o meio das sobrancelhas, de tanto a pele ter sido repuxada e os músculos confrangidos. O suor pingava-lhe do nariz, entrava nos seus olhos injetados e se misturava com a umidez das lágrimas. Ardiam por causa do sal.
— Misericórdia, misericórdia, misericórdia.
— Meu Deus, me ajuda, meu Deus misericórdia misericórdia.
O corpo estava à sua frente.
Esfregou os olhos com a parte de baixo da palma das mãos, a pele rugosa e calejada apertava agressivamente as suas pálpebras.
Olhou de novo. O sangue escuro, grosso, descia dos furos na camisa e devagar se espalhava pelo chão. Nunca vira tanto sangue. Confusa, notou que não tinha o brilho que ela tinha imaginado. Era opaco.
— Jesus meu Deus me ajuda ajuda sua filha ajuda ajuda.
Seu estômago se contraía involuntariamente, errando o tempo da respiração curta e ferindo as costelas.
Silêncio absoluto. Suor nos olhos outra vez. Ardência.
Mais uma vez as mãos vieram esfregá-los, agora com ainda mais força. Surgiram borrões de uma luz cegante, ela fechou os olhos e as luzes continuaram a pulsar no escuro. Tentou reorganizar um pouco a respiração descontrolada, esperou que as luzes morressem.
Reabriu os olhos.
O corpo tinha desaparecido.
— Santo Deus me ajuda socorre sua filha, que eu fiz que eu fiz meu Deus!
Fechou e abriu os olhos mais uma vez.
O corpo tinha desaparecido.
O sangue, porém, continuava ali. Não havia rastro nem sinal de que alguma coisa houvesse se mexido. O sangue não estava espirrado. Tudo parecia intocado, mas o corpo não estava mais ali.
De repente, a irmãzinha sentiu algo na mão.
Alguma coisa a tocava. Um formigamento estranho tateou-lhe o ombro, desceu pelo antebraço e a foi apalpando por dentro da pele até chegar à ponta dos dedos. Alguma coisa estava tocando sua mão.
Algo áspero, rígido, com uma textura que agora ela conseguia sentir perfeitamente.
Lembrou-se de que tinha um braço. Lembrou-se quase de que era um corpo e tinha alguma coisa a mover além dos olhos.
A mão estava fechada.
A textura áspera, rija e estranha era o cabo de uma faca.
Ela ergueu a faca no ar e girou-lhe a lâmina. Rebrilhava azul, cambiava para o amarelo e depois lançava no escuro um verde rútilo. As cores se metamorfoseavam e misturavam em cima do metal. A irmãzinha viu suas ranhuras, notou alguns minúsculos lascados no fio e seguiu com o olhar as letrinhas da marca. Percebeu, aliás, os riscos que a esponja fizera no metal com as inúmeras esfregadas em cima da pia.
A faca estava limpa. Impecavelmente limpa.
A cabeça latejava menos. Uma espécie de ruído começou a ecoar no seu ouvido, como o barulho de uma panela que vai se revelando enquanto lhe tiramos a tampa. O outro braço formigou. Um jorro de sangue encheu-lhe as veias e ela voltou a sentir o ombro, o roçar da camisola no antebraço, algo macio debaixo da mão apoiada.
— Sangue de Jesus tem poder idecanta labanarias tem poder.
Fitou o sangue outra vez. Continuava lá.
Girou o olhar e foi cravá-lo na porta entreaberta, de cuja fresta parecia surgir uma luz frágil, macilenta, quase imperceptível. Trêmula, como que fazendo esforço para não se apagar. Pareceu-lhe que duas longas faixas paralelas de sombra surgiram de sob a porta e recortaram-se na luzinha. Aos poucos, foram se esticando e crescendo ao longo de todo o chão. Alguém estava lá fora? Com a cabeça ainda confusa, a razão voltando aos poucos, ela fechou os olhos e sussurrou as palavras que já sabia de cor. Palavras que poderia repetir sob qualquer condição mental:
— Sangue de Jesus tem poder.
Reabriu os olhos. A luz frágil era o escuro melhor visto pelo olhar dilatado. Na verdade, não estava completamente escuro. As sombras por baixo da porta sumiram. Os ruídos se amplificaram e foram se transformando num burburinho. Como se por baixo daquele murmurejar houvesse algum sentido. Alguma mensagem embaralhada e sufocada.
Outra vez clamou o sangue de Jesus, o latejar suavizou e a irmãzinha conferiu o sangue.
Não havia sangue.
Uma dor aguda irradiou pelo seu maxilar. Os dentes tinham ficado trincados por várias horas.
Olhou para a televisão. Um vídeo passava no YouTube. Um sujeito de paletó, com a testa suada, gritava loucamente em cima dum púlpito:
— Ei, psiu, escuta. ESCUTA A VOZ DO SENHOR: hoje você está sendo liberto. Deus está te libertando, ouviu? Labaxurias, eita, Deus! O deserto está acabando, glorifica!
No dia seguinte, a irmãzinha descobriu que os pais do vizinho iriam se mudar dali.