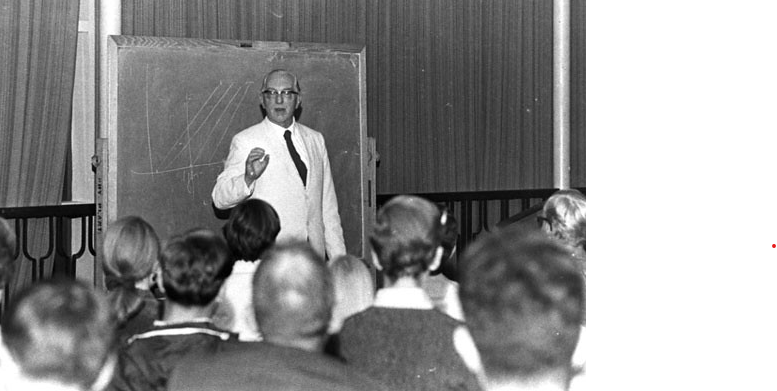I
A Nova Ciência da Política, publicado em 1952, quarto livro do autor e o primeiro escrito diretamente em inglês, foi recebido pela comunidade acadêmica da época com o misto de admiração e reserva que desde então não deixaram de ser o sentimento característico dos leitores que se deparam com as ideias de Eric Voegelin pela primeira vez. Passados três quartos de século de sua aparição, a Nova Ciência encontra-se publicada nas principais línguas europeias, e em chinês. Junto com Ordem e História, obra em 5 volumes da qual ela é uma espécie de conspecto introdutório dos primeiros três, o pequeno tratado tornou o nome de seu autor universalmente reconhecido como um dos grandes pensadores políticos do século XX.
No entanto, não se pode dizer que o sentimento do público tenha mudado nesse tempo. A reserva dos primeiros leitores continua a caracterizar sua recepção. Não é difícil imaginar o porquê. Uma lida cursória no índice é suficiente para notar como ela não se enquadra muito bem no que se esperaria de um livro cujo tema é representação política. Menos ainda se se levar em conta que ele é apresentado como “uma introdução”. Eleições, tipos se voto, partidos políticos, deputados, pesquisas de opinião, nada disso comparece como tema. Por outro lado, é bem provável que, de todos os volumes jamais publicados que porventura contenham a expressão “ciência política” no título, nenhum outro traga dissertações sobre concepções de verdade do Império Mongol no século XII, a escatologia cristã, a Gnose antiga ou o pensamento do abade Joaquim de Flora. Mesmo os tópicos mais convencionais, como o pensamento antigo ou as ideologias, são objeto de exposições à primeira vista idiossincráticas por parte de Voegelin, que em nada lembram as que comumente se encontram nas demais obras do gênero.
Não seria exagero dizer que este A Nova Ciência da Política que o leitor brasileiro agora tem em mãos pela segunda vez, encontra-se, hoje, como no tempo da primeira tradução nos anos 70, na condição de clássico reconhecido mas nunca realmente assimilado pela área.¹ É fácil apreciá-lo como ensaio histórico, mas o fato é que suas ideias principais dizem respeito à natureza e ao método da ciência política. E estas nunca exerceram nas discussões universitárias sobre metodologia a influência que mereciam. Em outras palavras, a ciência política que era nova em 1950 continua sendo nova em 2025. É característico dessa assimilação superficial que sua tese mais comentada até hoje, a de que as ideologias políticas modernas são uma forma de religião política derivada da gnose antiga, nem é, de fato, sua, nem é a parte mais importante de sua contribuição.
Convém, na ocasião da nova publicação do livro no Brasil, chamar atenção para esse aspecto metodológico. Ele não apenas é o mais importante como o que mais tende a passar desapercebido dos leitores. A dificuldade para com a sua dimensão metodológica é a segunda principal causa da recepção incompleta que o pensamento voegelianiano teve até hoje, a primeira sendo, naturalmente, a preponderância nas universidades do tipo de mentalidade sectária que ele estuda e denuncia, e que não lhe poderia dedicar outra coisa senão hostilidade.
II
Mas, desde que a palavra método pode significar muitas coisas, ou mesma coisa em diferentes graus de intensidade, comecemos pelo sentido mais exterior da palavra, o de método enquanto procedimento retórico oriundo de uma tradição filosófica específica.
Em certa medida, o estranhamento para com a nova ciência de Voegelin por parte de cientistas políticos, no sentido meramente administrativo do termo – o de portadores de diplomas na área –, deve-se ao modo histórico-filosófico com que o argumento é apresentado. Por formação, muitos não possuem a cultura que lhes permitiria ter interesse no tipo de problema levantado, e, por conta disso, lhes é difícil estimar corretamente as demostrações apresentadas. É comum que considere que o tema do livro extrapole o campo disciplinar da disciplina e não seja suficientemente sistemático no seu modo de argumentar.
Ora, quanto a isso, ele nada tem de tipicamente voegeliniano. A Nova Ciência da Política é, quanto a essa dimensão literária do método, um exemplar da geistesgeschichte, com muitos paralelos na tradição filosófica alemã do período, entre os quais os mais significativos talvez sejam a obra de Karl Jaspers e a de Hans Blumenberg. Assim como esses seus compatriotas e quase contemporâneos (Jaspers nasceu vinte anos antes, Blumenberg vinte depois dele), o problema que Voegelin se propõe a investigar é o do conteúdo moral positivo do pensamento moderno, o qual ingleses e franceses tomam tradicionalmente apenas em seu aspecto negativo.
Para ingleses e franceses, o que veio antes da modernidade, o cristianismo, a religião, a autoridade, era um problema que foi resolvido por ela. O iluminismo, a ciência, a razão técnica, a democracia liberal são o que deve ser. Sua existência não apresenta maiores questões. A ausência delas é que é anti-natural. Basta pensar nas self-evident truths da constituição Americana ou na cultura common sense tipicamente inglesa que toma a perspectiva do gentleman do século XVIII como a perspectiva universal da humanidade. Ou na disposição dos franceses em proclamar os direitos de todos os homens independentemente de onde ou quando tenham nascido. Não é assim para a grande tradição intelectual alemã dos séculos XIX e XX. Tendo absorvido as ideias iluministas como algo adventício, estiveram desde o início inclinados perceber, além do que estas ideias negavam – a tirania, a opressão, a superstição – aquilo que elas afirmavam necessariamente, nem sempre de modo explícito: o poder do Estado, que nada mais é que o anverso da igualdade; a guerra total, que nada mais é que a consequência do princípio de nacionalidade e, por último, o caráter religioso das doutrinas que negam fanaticamente a religião em nome da razão.
Descobrir esse conteúdo positivo implica saber discernir tanto a diferença da sociedade moderna para como o que veio antes, como as semelhanças. E para descobrir as semelhanças é preciso comparar a, note-se o oxímoro, tradição moderna, com outras tradições, civilizações e religiões conhecidas, questão que não se apresenta quando se toma os tempos modernos apenas em sua diferença com relação ao passado, com a superação da religião e da tradição. A perspectiva alemã redunda necessariamente, portanto, numa meditação sobre o sentido de toda a história universal, gênero de reflexão que tem seu fundador em Herder e seu grande representante em Hegel. Embora a obra deste último não compareça na de Voegelin como objeto de estudo a não ser em um estudo relativamente breve (e incomparavelmente mordaz) ela certamente pode ser considerada sua grande adversária, tanto em si mesma como na condição de representante da tradição da qual ele parte.
Muito da dificuldade que a Nova Ciência da Política encontra em ser admitida na guilda profissional dos cientistas políticos não provém de nada especificamente voegeliniano. Deve-se ao fato dela ser oriunda de uma tradição filosófica cuja problemática não é muito bem compreendida por estes. Incompreensão que pode ser atestada já, por exemplo, na respeitosa e desavisada resenha que recebeu de Robert Dahl em 1955.²
III
Isso, naturalmente, não explica tudo. Os cientistas políticos profissionais, é verdade, preferem deixar para os filósofos e poetas a reflexão infinita sobre o sentido da história e ocupar-se de objetos mais sérios e científicos como pesquisas de opinião, coligações partidárias e a qualidade da democracia. Assim como são estranhos um modo de argumentar que envolve longas disquisições filológicas, muitas vezes inconclusivas, sobre documentos obscuros do passado. Se Voegelin fosse um represente típico da geistesgeschichte, seria natural que suas ideias permanecessem inassimiladas por eles e fossem empurradas para os departamentos talvez de filosofia, como acontece , aliás, com muitos pensadores alemães.
Mas não é esse o caso. Tendo sido formado nesta tradição, Voegelin, que fez sua carreira nos EUA e escreveu a parte mais importante de sua obra em inglês, não é, nem mesmo quanto a este aspecto mais externo, um representante típico do gênero da “história do espírito” alemã. Dela diverge em um aspecto, para nosso tópico, digno de nota: historicamente, para os filósofos da história alemães, o interesse pelo grande quadro da história era apenas o anverso da de seu alijamento da política concreta; e a alta especulação filosófica uma compensação, e até uma dissimulação, da falta de comunicação com o público de uma classe composta essencialmente de professores universitários.
De modo muito pouco alemão, Voegelin não deixou nunca que preocupações intelectuais substituíssem a preocupação político-moral concreta que lhes deu ensejo. Ele foi, desde suas primeiras publicações, um admirador da cultura do common sense que encontrou nos EUA e manteve-se, ao longo da vida, um anti-intelectual à americana. Considerava obrigação do filósofo pensar de acordo com o senso comum e escrever de modo compreensível. Apesar da impressão que se possa ter de uma primeira leitura de seus livros, nunca foi um pensador nem obscuro nem abstruso. Os problemas que escolhia para atacar eram colhidos na experiência concreta do presente; as respostas que fornecia deveriam servir, senão a uma solução, ao menos a um melhor equacionamento do problema.
Além disso, Voegelin não foi o único pensador emigrado para os EUA que procurou elaborar um pensamento político que fosse um híbrido entre a tradição alemã e a americana. É interessante comparar, quanto à recepção, a sua obra com as de Hannah Arendt e Leo Strauss. Ambos publicaram obras capitais com o mesmo tema e quase ao mesmo tempo que Voegelin publicou A Nova Ciência da Política. As origens do Totalitarismo é de 1952 e Direito Natural e História de 1951, esta última resultado das mesmas Walgreen Lectures. Arendt, Voegelin e Strauss são muito comparados e há hoje um grande número de monografias que estudam conjuntamente suas obras. Eles são legitimamente creditados por ser os responsáveis pelo renascimento de um estilo humanístico de pensamento político num lugar e época – a academia americana dos anos cinquenta – em que predominavam os métodos das ciências sociais do século XIX.
A divergência metodológica entre a ciência política histórico-filosófica e a ciência política positiva não dizia respeito, naquele contexto, apenas a procedimentos de pesquisa. Ela expressava uma diferença mais fundamental quanto à natureza da racionalidade e, no limite, ao sentido da história da civilização ocidental. Levados, tanto quanto seus colegas americanos, pelo clima da Guerra-Fria, Arendt, Strauss e Voegelin consideravam como uma de suas principais tarefas o combate às ideologias que tinham sido a causa das últimas guerras mundiais, o comunismo e o fascismo. Em oposição a elas, porém, não as entendiam como formas de irracionalismo cujo remédio era a razão científica. Viam, antes, uma continuidade entre a razão iluminista e os totalitarismos do séc. XX – termo tornado conhecido por Arendt –, e o remédio não podia residir no cultivo da racionalidade científica. A solução que propunham era restaurar a forma superior de racionalidade que se pode encontrar nos clássicos do pensamento antigo como Platão e Aristóteles. Ao mesmo tempo que inclui o pensamento científico moderno por ser sua fonte última, a filosofia clássica é aberta a ordens de realidade que a ciência moderna não alcança. A principal delas é a ordem moral, a perda da inteligibilidade que parecia estar na raiz das catástrofes políticas do século XX. Esse programa pedagógico, com sua especial visão da história da razão, que era crítica do racionalismo mas não irracionalista, justifica que sejam até hoje referidos como pensadores políticos “neoclássicos”.
Formulada como uma contraposição a seus pares americanos, o neoclassicismo dos emigrés não deixa de ser uma solução singularmente americana. A sua crítica às “ilusões do progresso” não se limita ao decadentismo típico dos intelectuais europeus do período como os existencialistas, dos quais eles absorveram as principais ideias mas não o espírito de desengano. No seu caso, a crítica à tradição iluminista é complementada com um olhar otimista com relação ao futuro, ainda que inspirado pelo passado. Como Tocqueville um século antes, os três viam na democracia americana uma espécie de modernidade que, por ter nascido moderna e não ter opção de não sê-lo, não sofria do mal europeu de sê-lo primeiro no plano das ideias. O intelectual europeu, e em especial o alemão, tendo diante de si uma realidade moldada por um passado do qual era impossível se desfazer na prática, tendia a adotar ideias radicais que, precisamente por não partirem da experiência concreta, redundavam, quando postas em prática, no oposto do que pretendiam. A causa dos males da Europa, segundo seu modo de ver, não era um tipo de recrudescimento da barbárie como os americanos adeptos da ideia liberal de progresso gostavam de pensar, mas um racionalismo desvinculado da vida prática e desejoso, por isso, de dominá-la. As ideologias totalitárias não provinham da falta de civilização que o conceito de barbarismo supõe, mas do excesso dela. Por já ser moderna na prática, a democracia americana podia se dar o direito de ser conservadora na teoria. Esse liberalismo da prática, que não resultava da implementação de uma doutrina abstrata, era por isso mesmo capaz de admitir como correspondente no plano da teoria um pensamento que fosse ao mesmo tempo genuinamente político e não doutrinário, reconhecido pelo sucesso prático das instituições políticas americanas, sem se deixar iludir pelos princípios filosóficos que os justificam.
A situação se revelou idealmente fecunda para os três filósofos emigrados, à medida que lhes permitia tornar-se intelectuais americanos (os três escreveram a parte mais relevante de sua obra em inglês) sem abandonarem seu modo tipicamente alemão de colocar os problemas. Os EUA da segunda metade do século XX, emergido vitorioso da guerra que as democracias modernas não puderam ganhar por elas mesmas, se lhes afigurava como o único lugar possível de constituição de uma “tradição moderna”, única saída para o radicalismo das ideologias que haviam levado a Europa ao nacional-socialismo.
Dada essa sintonia, não surpreende o sucesso que a obra de dois deles encontrou junto à universidade americana, e por meio dessa, em todo o mundo. Sobre a Arendt, cujas categorias como “banalidade do mal” se tornaram parte do vocabulário da filosofia política, há muitos anos conhecida no Brasil, não há muito o que dizer. A recepção de Strauss é, para nós, porém, até mais significativa. Strauss não teve nem de perto o número de leitores que sua conterrânea, mas veio a tornar-se um dos pensadores “conservadores” (segundo as categorias americanas) mais influentes do século, com uma enorme influência na universidade americana. O straussianismo, além de um estilo intelectual veio a ser um fenômeno político de direito próprio, com grande influência na política externa do governo de George W. Bush.
Não é inverossímil pensar que, dadas essas semelhanças biográficas e temáticas – e a própria envergadura intelectual do autor – as ideias voegelinianas estivessem destinadas a ocupar, no pensamento político do século XX, um lugar semelhante ao ocupado pelas ideias destes seus dois companheiros de viagem. Até os anos cinquenta, com a publicação de A Nova Ciência da Política, seguida dos volumes iniciais de Ordem e História, era exatamente o que estava a passar. A tese que o pensamento político moderno é uma derivação do gnosticismo antigo soava aos ouvidos da época suficientemente simples e polêmica para que o autor fosse prestigiado com resenhas (inclusive uma de dez páginas na revista Time) e convites para seminários ao lado de intelectuais então famosos, como Ludwig von Mises. As seis conferências de Voegelin sobre o “espírito gnóstico da modernidade” eram então o melhor tratamento acadêmico de um tema que estava no ar no período do pós-guerra. É interessante notar como elas têm, virtualmente, o mesmo objeto que God and Man in Yale, livro que faria de seu autor, William Buckley Jr, um dos principais inspiradores do movimento conservador americano nas décadas subsequentes. Voegelin poderia facilmente ter se posicionado como o filósofo de um movimento político com o qual ele estava, em termos práticos, de acordo, e colhido os benefícios correspondentes para a reputação de sua obra.
IV
Como sabemos, não foi o que ele fez. O nível de análise ao qual ele conduziu a questão em Ordem e história – particularmente no volume IV, a Era Ecumênica – tornou sua filosofia inaproveitável para qualquer programa doutrinal, mesmo que o de simples crítica da modernidade para cuja tarefa ele tantos argumentos oferecia.
É importante ter em mente que foi uma opção orientada pelo método, agora no sentido mais profundo do termo. O método da ciência política, tal como Voegelin o concebe, não é um conjunto de normas de investigação preestabelecidas capazes de transformar quem as cumpra com diligência, a despeito da qualidade humana de sua pessoa, em um cientista possuidor da verdade. Se fosse apenas isso, por que método se poderia chegar às regras do método antes que elas fossem enunciadas? Não há como contornar o postulado do pensamento clássico de que o único método é a atenção contínua do investigador à causa última da realidade, da ordem da qual algumas regras de procedimento, sempre provisórias, podem ser formuladas e servir de critério último para a verdade de uma doutrina política. A busca da ordem correta da sociedade é já, portanto, a manifestação dessa mesma ordem no intelecto e vontade pessoais do filósofo, o qual não poderia saber a “sociedade justa” se não fosse, ele próprio, justo. E vice-versa: tornar a si próprio justo é a primeira etapa do caminho de como tornar-se um filósofo. Esta é a maneira através da qual a ciência política serve à sociedade, que se torna mais justa pela presença de pessoas justas, as quais, por sua vez, tornam-se mais justas por mais inquirirem sobre a justiça.
Nisso reside sua principal diferença para com a ciência política moderna. A ciência política positiva, fundada sobre a moderna concepção do método científico como um conjunto de procedimentos que qualquer um pode seguir independentemente de sua virtude pessoal, constitui, em última instância, um incentivo para tornarem-se arautos aqueles que não conhecem a justiça por experiência. E uma sociedade cuja ordem política depende ao menos em parte de pessoas cujo intelecto e vontade não tem da ordem da realidade uma intuição direta, está ela própria ameaçada por um foco de desordem. O esquecimento dos princípios platônicos de que a ordem na sociedade começa com a ordem no indivíduo, e de que não pode existir um saber político impessoal composto por um sistema de proposições, faz do saber político moderno inane e, por ser inane, destrutivo.
O pequeno funcionário esquerdista que contesta o pecado original, o intelectual secular que defende que o homem é bom, o filósofo que justifica a ética utilitária, o positivista jurídico que contesta a lei natural, o psicólogo que interpreta os fenômenos do espírito nos termos da vida dos instintos – eles não perpetram crimes como um assassino SS num campo de concentração – mas são seus pais espirituais, sua causa histórica imediata.³
Se o saber político se completa necessariamente na produção de ordem, ele deve ser, em alguma medida, por questão de método, polêmico. Pois o primeiro passo para a criação de ordem é a consignação das causas da desordem, principalmente quando esta advém da própria prática da ciência. Desviar-se desse imperativo significaria ignorar a situação concreta em que a ciência política é praticada o que não pode ser feito sem descaracterizá-la na sua qualidade de filosofia prática.
Como não é possível ser polêmico sem pagar um preço, também é parte do método a disposição para pagá-lo. Seria um erro ver na indiferença soberana que Voegelin demostrou sempre com relação ao público a manifestação de um mero traço psicológico, sem relação com os postulados filosóficos defendidos nos seus livros. Ela expressa uma virtude exigida do cientista político tal como ele entendia que devia ser um, a qual ele próprio representava como ninguém. Não há como ser um cientista político sem ser um homem adulto no sentido aristotélico.⁴ Sê-lo requer, entre muitas virtudes intelectuais, a virtude moral de não compactuar com as pressões institucionais próprios da cultura universitária. Esta convida o cientista a encaixar seus temas, problemas e os resultados de sua investigação em esquemas impostos de fora, que não derivam do próprio movimento interno de sua busca, que é, por sua vez, o próprio movimento interno da alma do filósofo. Aceitar ou não essas pressões exógenas, venham do público, da burocracia universitária, da diretriz de um partido ou do mero clima de opinião, não é uma questão privada do cientista alheia ao conteúdo objetivo de seu trabalho, mas questão de método no sentido platônico do termo. Ela faz parte já de seu saber.
No caso de Voegelin, a dimensão pessoal do método bem poderia ser descrita com a noção aristotélica de “grandeza de alma, a virtude do homem que não é humilde nem vaidoso, que, sabendo-se digno de coisas grandes, age como tal.⁵ Ele possuía uma probidade moral, científica e filosófica sem equivalente entre seus pares. Não apenas foi um pensador corajoso como poucos, como seus problemas com o regime nazista bem o demonstram, contrastando com o sumidades da época como Heidegger; não somente foi um historiador familiar com um número e diversidade impressionante de materiais, o suficiente para desafiar os especialistas de cada área, além de um teórico vigoroso. Ele foi cada uma dessas coisas porque tal era requerido para que ele pudesse ser a outra. O pathos específico de seu trabalho consistiu sempre na recusa permanente em dissociar essas três dimensões. Uma das etapas de familiarização para com seu pensamento consiste em perceber que os motivos que o fizeram não compactuar com o nazismo nos anos trinta, quando poderia ser de seu interesse fazê-lo, são os mesmos que o impeliram a desafiar, nos anos cinquenta, o establishment universitário alemão com suas conferências sobre Hitler e os alemães. E, antes disso, desafiar o establishment universitário americano com suas críticas ao positivismo então vigente.
Mesmo que sejam situações humanamente muito distintas, em todos estes casos Voegelin seguiu o mesmo método de descobrir a verdade e dizê-la, custe o que custar. Foi seguindo a mesma exigência que ele abandonou seu trabalho de dez volumes de história das ideias quando percebeu que estava na pista errada. Não havia, para ele, distinção entre o interesse científico e o interesse político de uma obra de pensamento político. As correções das próprias ideias e a constante recusa de fazer compromissos políticos resultam da mesma grandeza de alma que ele via como a precondição, ao mesmo tempo, do exercício da razão e da vida política. Concepção que é o oposto simétrico da de um de seus mestres, Max Weber, que tinha a atividade do cientista e a do político profissional por inconciliáveis entre si.⁶
A adesão irrestrita ao método da ciência política tal como ele o concebia distingue sua obra não apenas da dos cientistas políticos positivistas, mas também da dos outros dois refundadores da filosofia política clássica. Por formação e inclinação, Strauss e Arendt atacavam o tema da crise da cultura do mesmo ponto de partida que o próprio Voegelin. Eram, como ele, críticos da ciência política positiva, tinham o mesmo apreço pelo passado clássico e escreveram obras no mesmo gênero histórico-filosófico. Mas as semelhanças param por aí. Em primeiro lugar, porque Voegelin não defendia um passado ou uma escola de pensamento, mas um método. A posição mesma de atacar a modernidade e reivindicar uma antiguidade faz já parte da tradição moderna de pensamento político. Mesmo a busca de Strauss por um saber político antigo escondido nas obras das grandes inteligências do passado é, quanto à forma, uma criação moderna. Em segundo e mais importante porque desconsidera o fato bruto de que “a verdade do homem e a verdade de Deus são uma só”⁷ e que este não pode ser corretamente descrito a não ser como uma tensão entre o polo da natureza e o da realidade última sobrenatural, tensão a cuja experiência os filósofos têm dado diversos nomes ao longo da história, entre os quais o de fé.⁸
Para Arendt e Strauss, como para todo o pensamento moderno, a fé, especialmente a fé cristã, é um sentimento pessoal e um fato histórico inegável, mas não a intelecção de uma realidade verdadeira. Como fato histórico, representa a negação da vida política e como atitude intelectual, da filosofia. Ocorre que, segundo Voegelin, ao desconsiderarem a continuidade entre fé e conhecimento, ambos não apenas se colocavam fora da religião organizada chamada cristianismo, mas da tradição da ciência política platônico-aristotélica enquanto tal. Não há genuíno conhecimento político que não parta da experiência do humano como um lugar de interinidade entre o mortal e o divino. Negar a realidade dessa interinidade implica negar a validade dos princípios da ciência política simpliciter, os quais, precisamente por causa dessa congruência, foram preservados pela tradição intelectual cristã.
A recuperação do saber político dos antigos filósofos só é um bem à medida que serve ao propósito de formar verdadeiros cientistas com senso para Deus, homem, sociedade e a relação entre eles. Não é este o caso se ela é feita para estabelecer o paradigma de uma Era Dourada da política que sirva ao propósito de atacar abstratamente os tempos modernos sem afirmar os verdadeiros princípios da ciência, que não são, em si, históricos. A tradição moderna, não se deve esquecer, é também uma tradição de crítica a si mesma. Mesmo as ideologias reacionárias são, neste sentido, tipicamente modernas. Nem Platão nem Aristóteles conceberam jamais a ideia de que o saber de sua época sofria um processo de decadência que precisasse ser remediado com a recuperação de um saber antigo que se perdera.
Arendt e Strauss eram, tanto quanto Voegelin, críticos da ciência política positivista. Mas a posição que assumiram, de arautos de uma tradição e não da verdade, decorre do fato de não conseguirem enxergar a natureza do problema. Não é acaso que tenham sabido encontrar entendimento frutífero com o pensamento político de seu tempo. Quanto ao que realmente importa, pensavam de acordo com este. Foi esse acordo tácito e especialmente oblíquo no caso de Strauss, que lhes permitiu tornar-se os representantes, nos EUA, da “filosofia política” compreendida como uma disciplina universitária distinta da “ciência política”. Arendt assumiu, ao logo de suas obras, o papel de consciência moral supra ideológica da humanidade pós-holocausto. Strauss tornou-se, justa ou injustamente, o inspirador indireto do movimento neocon, e o guardião de um saber secreto sobre a relação entre política e religião a que só uns poucos poderiam aceder depois de uma longa leitura das obras clássicas da filosofia política.
Mas não há duas ciências políticas, uma “antiga” e uma “moderna”. Há apenas ciência. Os que esquecem, consciente ou inconscientemente, desse princípio básico de sua disciplina já não são, tecnicamente falando, cientistas, em que pese sua capacidade de produzir informação conferível em algum domínio especializado. As instituições que fomentam uma ciência social que não tenha presente estes princípios, mesmo que dispensem a seus alunos um alto padrão de meticulosidade metodológica, trabalham contra o conhecimento e, portanto, contra a ordem social. Políticos, empresários, servidores e estudantes que esperam do cientista político informações precisas para usá-las para finalidades não orientadas por um sentido profundo da totalidade do real, não são passíveis de ser politicamente educados.
Tanto em Arendt como em Strauss, a forma de expressão que souberam encontrar reflete sua interpretação do pensamento antigo. A alocução moral em grande estilo – que define, retoricamente, o pensamento da primeira – está bem de acordo com sua apreciação da Atenas dos sofistas; assim como a hermenêutica irônica de Strauss casa com seu espírito socrático. Qualquer que seja seu mérito nos respectivos gêneros, em ambos os casos sua escolha significou aceitar, na prática embora não na teoria, a divisão tipicamente neokantiana entre a “filosofia” e a “ciência política”, segundo a qual os filósofos têm direito a se dedicarem à crítica eloquente dos tempos modernos em nome de uma grande visão, desde que deixem de falar das questões políticas concretas. Já a dura realidade é apanágio somente do cientista político, o único detentor de um saber político positivo.
Ora, essa é justamente a dicotomia que Voegelin nunca aceitou nem na teoria nem na prática. A inadvertência para com este aspecto da intenção do autor tem sido, penso, um dos principais obstáculos para um aproveitamento fecundo de suas ideias. Ao mesmo tempo que ele rejeita como ideológico o ateísmo moderno, ele é, dentre os pensadores políticos do século XX, aquele para quem o eros da acribia científica é mais proeminente como motivo de pensamento. É um dos aspectos mais salientes em sua correspondência e nos escritos autobiográficos, e talvez menos mencionado do que deveria. Num século cujo pensamento político foi do grand récit iluminista, fundado numa ideia falsa da ciência ao “pós-modernismo”, negação da possibilidade de qualquer grande narrativa e da ciência, nosso autor não deixou nunca que a posição do arauto da grande visão suplantasse a do inquiridor minucioso. Se suas longas investigações adquirem às vezes o tom apologético com relação a autores e períodos históricos específicos – é o caso da filosofia antiga e do cristianismo – tal se dá à revelia de qualquer compromisso, por razões exclusivamente científicas.
Não foram poucos aqueles entre os primeiros leitores de A Nova Ciência da Política que, induzidos por predisposições adquiridas, ao mesmo tempo que se viam persuadidos pela análise das ideologias modernas apresentadas na obra, manifestaram dificuldades para aceitar a franqueza com que o livro apresenta o conhecimento da realidade transcendente como uma precondição do conhecimento científico, e o pensamento de parte desse conhecimento como superior, em termos puramente científicos, à ciência moderna. Ilustrativa, a esse respeito, é a resposta que ele escreveu a um dos mais eminentes pensadores conservadores da América, Francis Graham Wilson, na American Political Science Review [p. 170]:
Ao passo que não tenho nenhuma reserva com o que o sr. tem a dizer, deixe-me expressar meu lamento – assim como o fiz para Hallowell por ocasião de sua resenha para a Louisiana Law Journal – a respeito de uma omissão. O livro pretende ser um trabalho de ciência, não de opinião. Em vista de sua pretensão, teria sido de interesse ter tocado na questão de se as análises realizadas são ou não bem fundadas, e se as teses desenvolvidas são verdadeiras ou falsas. O progresso da verdade sobre a realidade política é a única justificativa para um livro deste tipo. A menos que ele apresente uma clara melhoria do presente estado da ciência, deve ser rotundamente condenado como um incômodo; se ele trás alguma melhoria, isto deve ser declarado. Pessoalmente eu acredito, é claro, que ele contém uma melhoria substancial quanto aos dois itens seguintes: i) ele avança da teologização para a ciência e substitui símbolos da teologia política por conceitos críticos; e ii) ele avança dos conceitos-tipo históricos, que ainda são a maldição de Max Weber a conceitos-tipo ontológicos baseados em uma antropologia filosófica. Teria certamente sido de interesse para mim, e poderia tê-lo sido para outros, ouvir um argumento autoritativo quanto ao êxito ou o fracasso nas melhorias tentadas.⁹
Ao professor Thomas I. Cook, especialista em John Locke que se mostrou incomodado com o que achava serem as premissas teológicas da obra, dado que era um “agnóstico com relação a sentimentos religiosos,” Voegelin responde:
Sua carta foi muito esclarecedora para mim pois agora eu vejo – ou, devo dizer mais cautelosamente, acredito ver – aonde residem as dificuldades de nosso mútuo entendimento. A dificuldade parece estar na sua concepção de metafísica ou de teologia como “premissas” a partir das quais se começa o trabalho teorético; e você está preocupado com várias tais premissas. Esta atitude é tão completamente estranha para mim que, devo confessá-lo, não estou sequer familiarizado com suas origens históricas e principais manifestações literárias, embora eu saiba que ela é largamente disseminada em nosso ambiente acadêmico. Deixe-me esboçar qual é minha objeção:
A questão de se alguém é um agnóstico ou religiosamente inclinado ou ambos ao mesmo tempo, como parece ser o seu caso, não tem, em minha opinião, absolutamente nada a ver com questões teóricas. Sinto-me mesmo incapaz de devolver sua confidência sobre essa questão pela boa razão de que eu mesmo não tenho clareza sobre o estado dos meus próprios sentimentos em tais matérias. Metafísica não é uma premissa de coisa nenhuma, até onde eu estou familiarizado com as obras dos filósofos, mas o resultado de um processo no qual um filósofo explica em símbolos racionais suas próprias experiências, especialmente as experiências de transcendência. E o mesmo vale para o cristianismo: teologia não é uma premissa, mas o resultado de experiências. Até onde concerne à ciência política, somos confrontados com o fato de que tais experiências são elementos constituintes da ordem social. Nesta condição, são fatos da história política. Logo, uma teoria da política deve tomar conhecimento desses fatos e interpretá-los nos seus próprios termos, qual seja, como experiências de ordem transcendente articulando a si mesmas em metafísica e teologia. Como cientista crítico eu tenho que aceitar esses fatos de ordem, qualquer que deva ser minha opinião pessoal sobre eles. A sua classificação de como não fatos de ordem mas como “premissas metafísicas” parece expressar não um julgamento da ciência e sim um erro dogmático formado a partir da posição de alguma ideologia.
Por conseguinte, eu não estou operando com uma premissa teológica, mas com uma proposta que certamente é empiricamente sustentável, isto é, a proposta de que as experiências de transcendência e sua articulação racional em metafísica e teologia são fatos ordenadores na história. Para reconhecer esse fato, teorizá-lo e assim por diante, você não precisa ser você mesmo um teólogo mais do que precisa ser um grande artista para escrever um estudo competente sobre Rembrandt. Claro, para teorizar sobre estes fatos, seu instrumento teórico tem que ser adequado – e aqui vem a dificuldade. Pois os instrumentos teóricos mais adequados para o tratamento desses fatos sucedem ser (como é de esperar) as articulações teóricas fornecidas paras tais experiências por homens que as tiveram. Em suma: para interpretar adequadamente Platão ou o cristianismo, as teorias desenvolvidas por Platão ou Santo Agostinho mostrar-se-ão consideravelmente mais adequadas do que as teorias desenvolvidas por pensadores comparativamente provincianos tais como [William] James ou [John] Dewey.¹⁰
Quando se examina o que Voegelin tinha a dizer a respeito das obras de seus colegas, pode-se perceber que o que realmente os separa não é uma discordância histórica quanto a alguma hipótese interpretativa, mas quanto à correção metodológica. Na resenha que escreveu sobre As origens do totalitarismo, diz:
E tanto quanto concerne à natureza do totalitarismo, [a obra] penetra nas questões teoreticamente relevantes. Este livro sobre os problemas da época, contudo, também é marcado por estes problemas, pois ele traz as cicatrizes do estado insatisfatório da teoria a que aludimos acima. Ele abunda de formulações brilhantes e percepções profundas – como se esperaria de um autor que domina como filósofo seus problemas –, mas, surpreendentemente, quando o autor segue estas percepções até suas consequências, o trabalho desvia-se para uma lamentável superficialidade.¹¹
Embora ele tivesse pela competência de Strauss como estudioso um respeito muito maior do que o que tinha por Arendt, e jamais tenha se pronunciado a seu respeito de maneira tão dura, o acusa indiretamente de incorrer em um erro não muito diferente do dela: o de permanecer, por falta de acribia, preso aos problemas da mesma época que denunciava. Na ocasião de seu diálogo a respeito do estudo de Strauss sobre o Hiero de Xenofonte, lembra ao amigo que “a crença na universalidade da imagem helênica do homem [que Strauss defendia] é um produto do Renascimento”. É um modo discreto de afirmar que ele era mais “moderno” do que talvez suspeitasse.
Em ambos os casos, em que pese a diferença de apreciação, o repto que Voegelin opõe a seus colegas filósofos é o de fracassarem como cientistas por não seguirem até o fim os documentos que fundamentam a análise. Se o fizessem, seriam mais místicos, pois seriam obrigados a reconhecer que não há como interpretá-los honestamente sem reconhecer a relação com o fundamento divino da realidade como um dos dados essenciais da realidade política. Dado que não pode ser compreendido se o analista, por razões dogmáticas, sem qualquer fundamento nas fontes, o trata como algo subjetivo.
V
Os departamentos, editoras, o público e as demais instituições culturais do período em que Voegelin viveu não estavam preparados para avir-se com essa união tipicamente voegeliniana das “duas vocações”, a do místico e do cientista. Embora a situação, hoje, por diversas razões, seja mais favorável, dicotomias obscurantistas como as que opõem uma “ciência política descritiva” a uma “ciência política normativa”, ou a “ciência” à “ideologia”, continuam a dificultar a cooperação entre os estudiosos da ciência dos “problemas da ordem humana na sociedade e na história” que se encontram espalhados por departamentos de filosofia, teologia, letras, história e ciências sociais.
Quanto mais clareza houver sobre o método, seu alcance, suas exigências intelectuais e morais, mais o trabalho será facilitado. Detectar a incompatibilidade entre as instituições em que se estuda ciência política e as virtudes pessoais necessárias à prática da ciência é tão somente a primeira etapa do aprendizado, necessária apenas porque é preciso lidar com ela de algum modo, não porque a crítica seja um fim em si mesmo. Fazê-lo já é colocar o método em prática.
Por último, recorde-se que a dificuldade é real, mas sua força não é suficiente para abafar a luz do espírito que, no século XX, talvez exatamente por conta da magnitude dos males, com maior evidência mostrou a eficácia de seu socorro. A crítica veemente que Voegelin faz tanto ao positivismo preponderante na prática da ciência quanto às ideologias entranhadas nas instituições políticas (hoje não menos do que então) não nos deve levar a pensar que ele tinha uma visão negativa do estado da ciência em seu próprio tempo ou que fosse pessimista em relação ao futuro desta. Muito pelo contrário. Ele considerava o século XX como o período de um verdadeiro despertar intelectual que devia ser legado às futuras gerações, para ser enriquecido e continuado. Apesar do nome, a Nova Ciência que ele apresenta não era vista como uma criação original sua, nem ele se atribuía um papel fundador. Ela nada mais é do que a aplicação a um conjunto específico de problemas de princípios que foram formulados pelos filósofos gregos e que vinham sendo novamente reformulados por muitos pensadores do século XX sem referência aos antigos, com os quais ele aprendeu.
Processo que nada tem de estranho se tivermos em mente que são princípios verdadeiros extraídos da experiência e que nem a inteligência humana nem a realidade mudam com o tempo. Todos os filósofos que o forem no sentido estrito da palavra estão condenados a redescobri-los, com maior ou menor intensidade de penetração. O trabalho do homem de ciência não é descobrir princípios novos, mas redescobri-los, no decorrer de uma atividade que dura toda a vida: a de conhecer a realidade tal como ela é. E precisamente porque não é a criação original de uma mente, mas a própria realidade, a ciência voegeliana é inventiva. Nada seria mais infiel ao método da ciência tal como ele o ensinava do que se apropriar de sua obra por esta ou aquela interpretação específica, ou, pior ainda, por esta ou aquela posição política. Seus ex-alunos do Institut für Politische Wissenschaft, em Munique, onde ele dirigiu a cátedra de Ciência Política, contam como ele nunca se interessou em ter discípulos “voegelinianos”, mas incentivava os estudantes a fazer seu próprio caminho. Voegelin não tem uma “teoria” da política apta a ser catalogada ao lado de outras “teorias” de outros pensadores, zelada por uma seita de alunos. Só há uma teoria porque só há uma realidade. O que ele apresenta, e exigia que seus estudantes soubessem apresentar, eram os resultados, sempre provisórios, sempre corrigíveis, da busca infinita.
Referências
1. Johnston, Patrick. Silence is not always golden: investigating the silence sourrounding the thought of Eric Voegelin. Dsponível on line em https://voegelinview.com/silence-is-not-always-golden-investigating-the-silence-surrounding-the-thought-of-eric-voegelin/
2. Dahl, Robert. A. The Science of Politics: New and Old, World Politics, Volume 7, Issue 03, pp. 479-489, abril de 1955.
3. Em carta a Hannah Arendt em Baher, Peter (org.) Debating totalitarianism: an exchange of letters between Hannah Arendt e Eric Voegelin, History and Theory 51 (October 2012), p. 473
4. Nesta obra, p. 45
5. Ética a Nicômaco, IV, III.
6. Ver as críticas a Weber à p. 16
7. V. p. 48.
8. V. p. 47.
9. Voegelin, Eric. The Colected works of Eric Voegelin, V. 30: Selected Correspondence 1950-1984, University of Missouri, 2007, p. 170.
10. Idem. p. 187–188.
11. Voegelin, Eric. The origins of totalitarianism. The review of politics, Vol. 15 No 1 (Jan., 1953), p. 69. Acesso: 28/02/2025