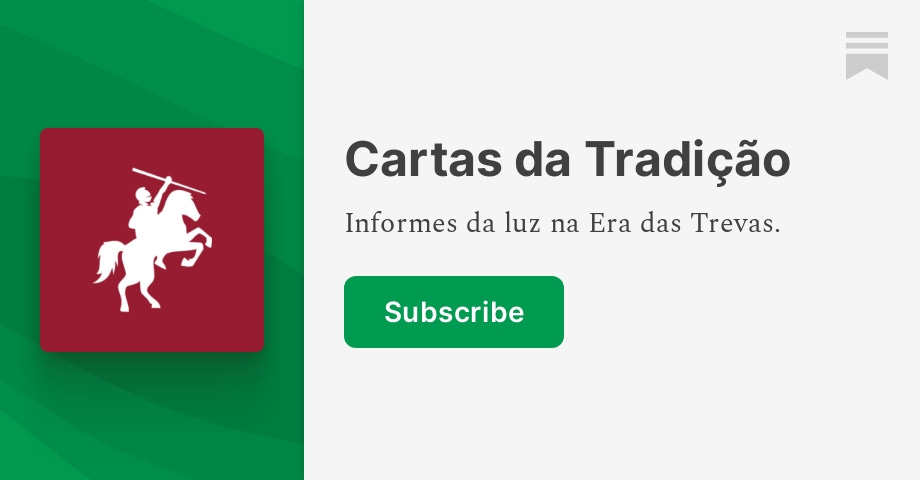— por Victor Bruno
O assunto veio à baila depois que o trabalho de Vicente Pessôa para a publicação de Frankenstein pelo Clube de Literatura Clássica (CLC) foi desclassificado do Prêmio Jabuti na categoria Ilustração. O Prêmio Jabuti, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), é a maior condecoração do nosso mercado literário.
Fiquei particularmente intrigado com a polêmica. Intrigado por conta dos meus temores a respeito de como essa questão seria “debatida” pelo público brasileiro. Especialmente pelo público autodenominado “conservador”, que soma o grosso dos assinantes do Clube.
A resposta oficial, compartilhada até mesmo pelo próprio CLC, diz que a eliminação foi injusta. Injusta porque o trabalho de Pessôa é brilhante. O conceito é fabuloso: Frankenstein não é um livro que fala dum monstro criado pela ciência? Então o que seria mais harmônico e simétrico que um projeto gráfico feito pela ciência? A IA, no caso, faz o duplo da ciência.
Como eu disse, o próprio CLC usou essa justificativa. Segundo o jornal O Globo,
“o Clube de Literatura Clássica chamou a decisão da CBL de “injusta” e disse que a opção de ilustrar “Frankenstein” com imagens geradas por IA foi “conceitual”. “O clássico de Mary Shelley narra o desenvolvimento de uma ‘inteligência artificial’: a monstruosa criatura do Dr. Frankenstein. Essa escolha foi feita para aprofundar o significado da obra e o questionamento que ela provoca sobre os limites da tecnologia: uma inteligência artificial ilustrando outra inteligência artificial, um monstro ilustrando outro monstro”, afirma o comunicado.”
O que me chama atenção nisso tudo é que, considerando se tratar de um projeto essencialmente conservador, ou seja, surgido e direcionado para pessoas que desejam se familiarizar com as “grandes obras da literatura Ocidental” — conforme as exigências sugeridas por Olavo de Carvalho, de que se formasse um “horizonte de consciência” pautado pela cultura humanista, uma vez que “a Grande Literatura do mundo contém um material que, para o estudante de Filosofia, é absolutamente precioso” —, a explicação escolhida seja tão, mas tão pós-moderna.
E qual o problema disso?
A discussão sobre pós-modernismo no Brasil, ao menos no contexto da chamada “nova direita”, é praticamente inexistente. Se fosse frequente ou presente, decerto muitos dos defensores do trabalho do designer de Frankenstein ficariam constrangidos, porque o argumento “conceitual” do projeto gráfico do artista é inteiramente pós-moderno.
Primeiro, vale apontar isto: a simetria entre o monstro gerado pela ciência e o conceito da arte gerada pela ciência é falsa. O monstro do Dr. Frankenstein é, por óbvio, um monstro. Um assassino que destrói várias vidas. Já a obra de Vicente Pessôa não é monstruosa. Antes, é um belo projeto gráfico.
Haverá tempo para falarmos da “beleza”. Se não for agora, será depois. Com certeza trata-se de um projeto esteticamente agradável. Ao contrário de outros projetos do designer, como as ilustrações no miolo da edição de Ilusões Perdidas do mesmo CLC. O cerne da questão aqui é que uma vez que se desvende que as artes do projeto de Frankenstein foram executadas por IA, a defesa do trabalho do designer só pode ser feita pelo expediente conceitual. O cerne da questão aqui é que uma vez que se desvende que as artes do projeto de Frankenstein foram executadas por IA, a defesa do trabalho do designer só pode ser feita pelo expediente conceitual.
Para tantas pessoas que querem se esclarecer lendo a grande literatura do Ocidente, defender um projeto gráfico conceitualmente é no mínimo um contrassenso. Porque uma obra de arte (e não vejo problema em admitir que um projeto gráfico seja arte) que é justificada pelo seu conceito é uma obra de arte justificada por algo extemporâneo. Recorre-se, portanto, a um elemento exterior à obra para que ela faça sentido. Aliás, não apenas a defesa ocorre por algo externo à obra, mas o próprio sentido dela é referenciado a algo que não lhe pertence. Isto é: a obra não existe; ela existe indicando algo ao seu lado. Como um corpo cuja alma está fora de si.
Se pudermos imaginar graficamente o que o projeto do Frankenstein de Pessôa significa, podemos visualizar que seu projeto gráfico está, como obra, paralelo ao livro de Mary Shelley. Ao olhar para o desenho, o espectador consciente não vê o desenho, mas o conceito dele. A obra se dilui naquele instante. O projeto gráfico não é um adorno que exalta o sentido do romance, mas um parasita que anula a arte conceitualizada pelo próprio Vicente Pessôa. Chegamos aqui à morte do artista: salvando-se o artista pelo seu conceito, mata-se Vicente Pessôa como artista pelo simples fato de que a ideia é aqui maior que a arte.
Nos aproximamos agora de Roland Barthes e da morte do autor.
Alguém aí aceita dar razão a Barthes?
Só não chegamos completamente à ideia barthesiana de morte do autor porque não tiramos completamente de Pessôa a posse sobre seu trabalho. Mas já estamos no campo pós-moderno, porque o trabalho de Pessôa não é de arte, mas de ideia de arte. Pior ainda, estamos no campo da fractalização completa que os pós-modernos avançam como sendo o olhar necessário ao mundo dentro do contexto capitalista. Se admitirmos isso, seremos forçados também a admitir que o mundo tem uma estrutura fractal, multi-referencial, de contextos, significados e sentidos intercambiantes. Se essa ideia parece conceitualmente atraente, então não podemos fazer nada para impedir que masculinidade e a feminilidade sejam construções sociais impostas.
A ligação do projeto de Vicente Pessôa com o pós-modernismo é tão intensa que essas relações conectivas entre o design de IA que aponta para a temática do livro de Mary Shelley num plano horizontal se irmanam com a noção de falta de profundidade (depthlessness) proposta por Frederic Jameson em seu clássico Postmodernism (1990). Nesse livro, Jameson indica que a nova pintura é uma expressão em que “os mais descontrolados tipos de figuração emergem com uma falta de profundidade que não é nem mesmo alucinatória, como a livre-associação de um assunto coletivo impessoal, sem a carga e o investimento seja de um Inconsciente pessoal ou grupal” (p. 174). Ou seja: imagens e símbolos são jogados atabalhoadamente, “abjurando de tudo do passado que permaneceu sob o nome de ‘tradição’ até o presente, bem a tempo de ser visualmente reificado, estilhaçado e varrido para longe com todo o resto” (p. 175).
Claro que nem tudo isso está presente no problema da arte de IA conceituada por Vicente Pessôa. Mas esses problemas aqui indicados estão decerto em potência dentro da lógica que admite a defesa da arte de IA como “conceito”.
Aqui fica mais uma vez a indicação que ser “tradicional” ou “conservador” não significa apenas gostar de coisa velha. Significa, num sentido direto, abjurar de tudo aquilo que não encontre respaldo numa tradição. E isso vale para tudo. Vale, também, como critério para a defesa ou condenação de trabalhos de arte. Seja de quem for o trabalho.
Por agora, basta que compreendamos que “arte” feita por IA não é arte, porque não há “fazer”, e o fazer é a essência mesma da arte.